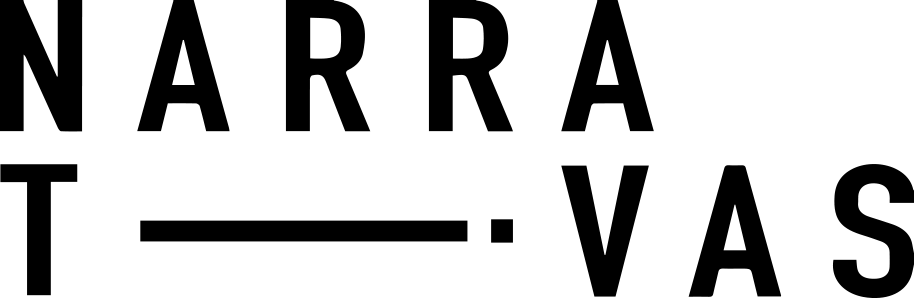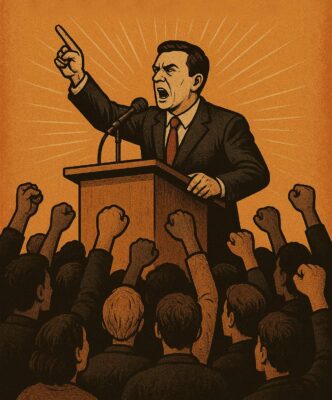A Morte
A Mercantilização da Morte
“Life is for the living. Death is for the dead. Let life be like music. And death a note unsaid.” - Langston Hughes
Bruno Boaventura, Diogo Rosa, João Guilherme, Gonçalo Domingos

“Dizem que a morte nos torna iguais, mas não é bem assim”
A tarde está calma em Barão de São Miguel quando a conversa é interrompida. “Parem lá de falar em morte que me afugentam a clientela”, vocifera, a sorrir, o dono do café Palur. Fernando Silva, antigo coveiro municipal e cliente habitual daquele estabelecimento, responde-lhe prontamente: “Dos mortos não queres saber tu. Não gastam dinheiro.”
Fernando já fez de tudo um pouco desde que saiu de Odemira, a “sua” terra, como tantas vezes gosta de nos dizer. Trabalhou nos campos agrícolas ainda em território alentejano antes de partir para sul à procura de uma vida melhor – oportunidade que atribui ao 25 de Abril. Na zona de Lagos dedicou uma série de anos à construção civil, até ser contratado pela autarquia de Vila do Bispo para desempenhar, entre outras, a função de coveiro do município. Foi viver para Barão de São Miguel, aldeia pequena no limite do concelho, e nunca mais de lá saiu. Ao todo foram dez anos dedicados exclusivamente à manutenção de cemitérios e enterros.
“Nunca lidei mal com o facto de ser coveiro. É um trabalho como os outros. Quando me contrataram precisavam de alguém para ser coveiro, e eu fui coveiro até me darem outras funções.”
Conta-nos que se emocionou algumas vezes no exercício da profissão. Em detalhe, fala-nos de duas: uma vez em que teve de enterrar uma jovem, falecida num acidente de viação, e outra em que da família do morto só apareceu no funeral a mãe, uma senhora de idade, que vivia sozinha. Nesta última – diz-, não havia uma flor, uma fotografia, nada, para lá do mínimo “oferecido” pela funerária. Aproveitamos a deixa para lhe perguntar sobre as desigualdades económicas que observou nos funerais. “É como na vida, não é? Dizem que a morte nos torna iguais, mas não é bem assim”, afirma.
O negócio da morte
Trezentos quilómetros a norte, numa região bem distinta do país, encontramos, na ocupada rua da Casa do Povo, em Corroios, um nome a que os portugueses que vivem nas principais zonas urbanas do país se começam a habituar: Servilusa – Agências Funerárias, a maior empresa ibérica do setor. A cerca de 100 quilómetros de distância, perto da sede do Ginásio Clube de Corroios, descobrimos outra agência, a Brilho Eterno, antiga Agência Funerária de Corroios. Mesmo considerando o aumento da esperança média de vida, Portugal é um país muito envelhecido. Segundo David Bloom, professor de economia da Universidade de Harvard, o nosso país tem nos idosos 22,8% da população. O setor funerário parece ser um negócio cada vez mais apetecível – de um ponto de vista puramente económico, claro. Mas que diferenças há entre as empresas do setor? Como é que se tem desenvolvido o negócio da morte em Portugal?
Servilusa: uma multinacional que resultou da união de sociedades funerárias portuguesas e espanholas e que hoje é detida em 100% pelo grupo Mémora, empresa funerária cujo capital pertence na sua maioria a um fundo de pensões canadiano, o Ontario Teachers’ Pension Plan – um simples fundo de pensões para professores do Canadá, avaliado em qualquer coisa como duzentos biliões de dólares. A Servilusa é a maior funerária da Península Ibérica e em 2020 contava com setenta e uma lojas apenas em Portugal, empregando cerca de trezentos trabalhadores.
Face à dimensão da Servilusa, e à sua tendência expansionista, não é de estranhar que esta se comece a comportar como um agente de peso no mercado. Em 2017, segundo o Expresso, a multinacional representava 12% da faturação do setor funerário em Portugal. Embora existam centenas de agências funerárias mais pequenas, a Servilusa tem vindo a adquirir algumas delas, nas principais cidades do país, seguindo-se a prática de preços nada amigáveis para os bolsos de quem tem menores rendimentos – um funeral mais básico pode custar por volta de 1700 euros, um serviço mais detalhado cerca de 3000, 4000 ou 5000 euros. Para quem não se pode dar ao aparente luxo de ter um funeral “digno”, a Segurança Social reembolsa os seus beneficiários com um subsídio por morte no valor de 1.316,43 euros. Também é a Segurança Social que se encarrega de reembolsar a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa na realização de funerais de pessoas que morrem sozinhas, com um custo de 332 euros. Por estranho que pareça, e como escreve Rita Canas Mendes no seu livro Viver da Morte: a Indústria Funerária em Portugal, quem tem ganho o concurso para prestar este serviço à Santa Casa da Misericórdia é a própria Servilusa.
O “abismo” que existe entre a Servilusa e as outras funerárias tanto em termos de recursos como de práticas comerciais é gigantesco. A tendência de verticalização é evidente: privatização de cemitérios, concentração de capital referente ao mercado funerário, compra de agências funerárias potencialmente concorrentes, forte investimento em publicidade. Todos estes fatores fazem com que a criação de um negócio neste setor pareça um erro fatal. No entanto, em sentido contracorrente, existe um bom exemplo de que há pessoas que não têm medo de competir com um grande agente económico. A Funerária Central São Marcos é uma pequena agência funerária, com cerca de dois anos de atividade, que se localiza em São Marcos, no Cacém. Com tamanha concorrência, a funerária foi criada para servir um público mais local, sendo a única agência funerária num bairro que conta com mais de 20.000 habitantes.
Se numa praceta do Cacém alguém achou por bem entrar no mercado funerário, em Corroios a história é diferente. A Brilho Eterno mudou de imagem e de nome. Apresenta-se agora de forma mais profissional e com um design mais moderno. Não conseguimos saber ao certo qual terá sido a razão da mudança. Dizem-nos que se desdobram em trabalho e que são poucos, que” nesta altura nem uma conversa dá para ter” devido à pandemia. Pedimos desculpa pelo incómodo e não lhes desejamos prosperidade no trabalho, por razões óbvias. Quem ali mora sabe que a mudança começou a ser pensada com a chegada da agência Servilusa. A competição força a adaptação e profissionalização das empresas, mas dificulta a vida a quem não possui os mesmos recursos.
Este tipo de empreendedorismo pode ajudar a atenuar as grandes diferenças que existem no mercado funerário. A desconcentração e distribuição do capital é algo essencial para a manutenção de um mercado mais equilibrado. As pequenas e médias empresas deste setor não devem ser ignoradas no esforço de uma competição desleal. Todavia, e apesar do mercado funerário constituir uma indústria com valor de mercado em crescimento, a tendência será a concentração de capital. Exemplos de outras indústrias no ocidente, desde a aviação e produção automóvel até à alimentação, seguem este rumo. A liberalização económica, que permite grandes disparidades no mercado, parece não ter fim à vista numa União Europeia, que embora mais interveniente na vida nacional dos estados membros, tarda em reverter privatizações de setores estratégicos, impossibilitando-as em muitos dos casos. Neste continente, cada vez mais envelhecido, a mercantilização deste e de outros setores parece, à luz do mercado e da tendência de concentração de capital, não ter fim à vista.
Perguntamos a Fernando Silva se alguma vez fez serviço para a Servilusa. A resposta é um rápido “não”. Diz-nos que “essas grandes funerárias” fazem o serviço todo, com os próprios profissionais. “Se dependesse deles, já nem existiam cemitérios públicos.” Não se alonga muito sobre este tema em concreto e relaciona a conversa com a “luta” – política, entenda-se. É um homem de fortes convicções. Militante comunista, “característica pessoal” que nos conta ainda numa fase embrionária da conversa, vê a concentração de capital no setor privado como o fim dos “comerciantes mais pequenitos”. Prometemos-lhe que vamos escrever sobre isso no trabalho. Chamamos o dono do café. Está na hora de refrescar as ideias.
Desigualdade em vida, desigualdade na morte
Na atualidade, somos confrontados com um dos maiores problemas que existem desde o abandono das sociedades tribais, com o surgimento da propriedade privada e a edificação de Estados: as desigualdades socioeconómicas. Estas desigualdades consistem na divisão da sociedade em grupos – ou classes, segundo Karl Marx- por relação com o modelo de produção e as condições sociais e económicas que estruturam a sociedade. Estas divisões provocam assimetrias que separam pessoas sem recursos, rendimentos e oportunidades daquelas que os possuem, dando origem a uma divisão social evidente. No topo dessa relação está uma forte concentração de rendimentos, poder e influência. Desta forma, a maioria da população fica à mercê de uma minoria que detém os recursos e a forma de os produzir, o que gera as tais desigualdades.
As causas desta desigualdade têm na conceção marxista uma explicação bem detalhada. No entanto, com o desenvolvimento da sociedade capitalista, os contornos que podemos observar deram azo a uma nova realidade, mais complexa, embora com a mesma fossa social. Acumulação de capital, corrupção, consumismo e falta de investimento em áreas chave como a educação, saúde e cultura são motores e frutos desta desigualdade. As consequências são também várias, o que sublinha a gravidade deste fenómeno. Pobreza, desemprego, fome, racismo e xenofobia são apenas alguns dos problemas causados por desigualdades estruturais que tem no capitalismo a sua versão mais recente. Este modelo de produção continua a não conseguir responder às necessidades básicas de grande parte da população mundial, o que impossibilita a prosperidade equitativa. A realidade, embora diferente, dá contornos novos ao mesmo tipo de exploração.
É um fenómeno global, tanto na sua escala de impacto como nos seus efeitos. Também ocorre a nível regional, tendo cada país a sua própria versão de desigualdade. Daí advém a classificação dos países entre desenvolvidos e em desenvolvimento. Classificação essa fortemente criticada por ignorar não só a responsabilidade dos países mais influentes no atraso estrutural do sul global, como também pela presença tremenda de desigualdades nos países mais desenvolvidos.

A paridade do poder de compra (fig. 1) diz respeito ao poder médio de compra de cada país em relação com o custo local de mercadorias. Apesar de também poder ser criticável, é uma alternativa em relação ao PIB (Produto Interno Bruto), pois apresenta melhor as noções de custo de vida e de rendimentos de cada país. De qualquer forma, observando a figura podemos ter uma ideia mais clara da situação mundial.
Em Portugal a situação não é diferente. Apesar de uma relativa melhoria de vida na última legislatura, as desigualdades não têm diminuído de forma significativa. Continuam a existir 21,6% de pessoas no nosso país em risco de pobreza, segundo dados de 2019 do Eurostat. Nesta mesma altura, Portugal contava com mais de 117 mil milionários, número que o grupo de investimento Credit Suisse prevê aumentar para 174 mil num espaço de 4 anos.

Este gráfico da Fundação Francisco Manuel dos Santos, elaborado com dados do INE, apresenta-nos a percentagem de desigualdade por regiões – o coeficiente de Gini -, que avalia as assimetrias na distribuição de rendimentos.

A leitura não engana: 1% da população mundial possui 44% da riqueza mundial. O valor, segundo o Credit Suisse – e o desenvolvimento natural da sociedade capitalista actual -, continuará a aumentar nos próximos anos, contribuindo assim para o aumento das desigualdades sociais, e os problemas que delas advêm.
As últimas décadas têm aumentado todas estas disparidades. Em período de puro neoliberalismo, continua-se a questionar o peso económico do “Estado de bem-estar” enquanto se critica o funcionamento do chamado elevador social. A aplicação de medidas de redistribuição de riqueza, como a taxação dos rendimentos mais elevados tarda em ser uma realidade. Ao keynesianismo sobrepôs-se, de forma geral, a narrativa da escola de Chicago – do fim da responsabilidade social e comunitária de quem perpetua e se aproveita da desigualdade.
Falar de morte é falar de desigualdade.

Economia da morte e Marx
À semelhança do que acontece noutras áreas da sociedade, processos de mercantilização são, cada vez mais, uma realidade. As divisões socioeconómicas manifestadas na morte e no seu mercado precedem em larga escala o capitalismo. Diferenças relacionadas com estatuto e poder podem ser observadas no estudo de sociedades que nos antecedem em milénios; no entanto, é na sociedade capitalista que emerge a nova etapa da relação entre o homem e a sua finitude: o do estreitamento entre morte e consumo.
Para entender este fenómeno é importante recuar até ao mais famoso crítico dos mecanismos do modo de produção capitalista e a sua influência na sociedade.
No seu livro O Capital, Karl Marx apresenta-nos uma crítica da economia política onde detalha os processos de produção, circulação e globalização do capital. O seu trabalho deu azo a abordagens de outros teóricos, como Adorno e Lukács, que aprofundaram a forma como o modo de produção se interrelaciona com o homem e regula as demais relações sociais.
De forma mais detalhada, interessa-nos olhar para o processo de mercantilização e introduzir alguns conceitos básicos que nos ajudam a explicar a dimensão destes fenómenos.
Mercantilizar é tornar algo num artigo mercantil. No desenvolvimento da sociedade de consumo, este processo abrange não só objetos e serviços mais tradicionais, mas também pessoas e ideias. No atual sistema de produção capitalista tudo o que puder ser transformado num produto, tendo como princípio único a obtenção de lucro e de exploração da mais-valia, sê-lo-á. Isto aconteceu com a morte e com o setor funerário ao longo de séculos de desenvolvimento do capitalismo. Desta forma, a comoditização da morte faz com que o setor siga a lógica comum das estratégias mercantis aplicadas a outros produtos e serviços. Segundo o filósofo francês Gilles Lipovetsky, todas as esferas da vida social e individual são reorganizadas de acordo com os princípios da ordem consumista. Comercializam-se “estilos de vida”, e por sua vez “estilos de morte”. É também assim que o valor social das pessoas no capitalismo tende a ser estimado pelo que têm e não pelo que são. Vive-se, diz Lipovetsky, na era do hiperconsumo.
Tal como se verifica com a cultura, a educação e a saúde, os processos de mercantilização estendem-se a muito mais do que a simples produtos. No setor funerário, o morto é utilizado com ponte para o consumo das suas famílias, entrando assim na relação mercantil de forma direta. Tirando o morto da equação, a indústria segue um rumo bastante normal: comercializa objetos (caixão, urnas, flores, velas, etc.) e serviços, levados a cabo por trabalhadores assalariados. No entanto, a forma como o ser humano, mesmo morto, é tratado como mercadoria, um objeto a ser adornado e tratado para “consumo” dos próprios familiares pressupõe um grave processo de reificação, para além da alienação do trabalhador utilizado.
Fernando Silva transmite algumas características desta alienação, embora nunca tenha trabalhado para uma empresa funerária. O relacionamento com a profissão como “mais um trabalho qualquer” mostra o papel que a morte – e o trabalho – têm nos dias que correm. Por um lado, existe uma desmistificação do fim da vida, que poderia contribuir para tratar o tema de forma menos descomplexada; por outro, começa a manifestar-se, em larga escala, tanto em trabalhadores comuns como no setor mais profissionalizado da área, uma frieza excessiva no tratamento de um tema tão sensível. Na sociedade de consumo, coisificamos e mercantilizamos a vida e a morte humanas.

Turismo da Morte
Em plena era dourada do negócio turístico à escala internacional, verifica-se o súbito crescimento de um fenómeno catalogado por académicos como o Turismo da Morte ou o Turismo Negro. Locais ligados à morte (museu do 11 de setembro), ao desastre (Chernobyl e Pripyat), à atrocidade (Auschwitz) ou a um conflito político-social pendente (como é o caso da Guerra da Coreia) começaram a chamar a atenção dos turistas e a procura destes locais como destino aumenta ano após ano.
O termo “Turismo Negro” é bastante mais recente do que a prática do mesmo. Remonta ao Coliseu Romano, para o qual viajavam centenas de pessoas para assistir à morte como se de um desporto se tratasse ou, mais recentemente, a antiga cidade de Pompeia, submersa em lava após a erupção do Vesúvio, como uma atração mórbida. Só em 1996 o termo “Turismo Negro” entrou no léxico académico, quando dois estudiosos de Glasgow o aplicaram ao local associado à morte de John F. Kennedy, em Dallas, no Texas.
Num estudo realizado em 2015 por um grupo de investigadores norte-americanos e canadianos, do qual fazem parte, entre outros, os professores Jeffrey Podoshen e Vivek Venkatesh, foi proposto um novo modelo de Turismo Negro: o Turismo Negro Distópico. Este modelo teórico analisa a relação do Turismo Negro ao conceito de distopia, ao retrato da morte na cultura e ao sentimento de insegurança e adrenalina dos visitantes destes locais. Os impulsos sádicos podem influenciar a decisão de visitar um local “negro” e, em muitos casos, a viagem em grupo fá-lo sentir maior segurança para enfrentar a lembrança do terror ou da tragédia contida nesse local.
O crescimento de filmes, música e livros abordando a relação da sociedade com a violência e a morte ao longo do último século terá influenciado um maior interesse nestes temas por grande parte da população. Pessoas mais inseguras em relação à morte ou com interesse na relação da sociedade com a violência tornam-se mais interessadas neste fenómeno distópico a uma escala global.
Estes investigadores concordam que utilizar locais com um passado trágico como locais de entretenimento ultrapassa a barreira do eticamente correto e podem ser ofensivos para aqueles que sofreram, direta ou indiretamente, com os acontecimentos lá ocorridos. Porém, têm uma opinião favorável desta forma de turismo desde que este se mantenha dentro dos limites do respeito, vendo-a como lucrativa para os locais onde está sediado o interesse dos visitantes, logo positiva.
Contudo, e de forma pouco surpreendente, nem todos os moradores destes locais, muitos deles vítimas dos desastres ocorridos, veem esta forma de turismo com bons olhos, nem aceitam que um grupo de turistas testemunhe a sua dor ou que as companhias de viagens estejam a lucrar com as suas perdas.
Como exemplo desse descontentamento, em 2012, numa cidade de Nova Orleães ainda a recuperar do furacão Katrina, autocarros turísticos traziam de hora a hora dezenas de visitantes para a Baixa Nona Ala da cidade, onde o furacão tinha provocado maior destruição. Os residentes, cansados de ver o seu sofrimento ser mercantilizado em forma de lazer, começaram a lutar contra os operadores de autocarros turísticos com protestos, tendo o apoio por parte dos políticos da região, que infringiam multas de estacionamento aos mesmos.
Se por um lado o Turismo Negro serve a indústria lucrativa do turismo, servindo de igual modo os interesses económicos de regiões recentemente afetas por catástrofes ou tragédias, essa mesma forma de turismo tem esbarrado com inúmeras críticas, sobretudo do ponto de vista ético da mesma. Esta é mais uma forma como a mercantilização do setor se tem manifestado.
O negócio da Eutanásia
A eutanásia é o ato que leva à morte de um indivíduo por sua vontade, executado por um profissional de saúde. A palavra tem origem no grego – “boa morte”; “eu” significa “boa” e “tanathos” significa “morte” – e tem estado em cada vez maior vigor à medida que o debate a propósito da sua legalização vai crescendo um pouco por todo o mundo.
Em Portugal, a morte assistida não está tipificada como crime, mas a sua prática pode ser punida por três artigos do Código Penal: homicídio privilegiado (artigo 133.º), homicídio a pedido da vítima (artigo 134.º) e crime de incitamento ou auxílio ao suicídio (artigo 135.º) e as penas variam entre um e oito anos de prisão. Algo que tem sido frequentemente posto em causa por diversos partidos políticos que, em fevereiro de 2020, votaram em Assembleia a favor da despenalização da eutanásia, aguardando pelo voto final no parlamento e pela decisão do Presidente da República.
A lei, ainda num impasse entre Assembleia da República, Presidência da República e Tribunal Constitucional, prevê que possam pedir a morte assistida, através de um médico, pessoas maiores de 18 anos, sem problemas ou doenças mentais, em situação de sofrimento e com doença incurável e especifica quais as condições em que o profissional de saúde não é punido judicialmente, sendo estas tudo menos claras.
Na Suíça, onde o suicídio assistido é permitido, a associação Dignitas estabelece uma quota de 100 euros por ano, custando o suicídio assistido cerca de 10 mil euros, não sendo esta a única associação suíça a lucrar com a causa. Mais uma vez, nem toda a gente tem acesso a este tipo de serviço, erguendo-se mais uma barreira em função da condição económica.
A iniciativa HOPE: Preventing Euthanasia & Assisted Suicide é uma coligação de grupos e indivíduos que se opõem à legalização da eutanásia e a medidas de apoio da mesma e apresenta uma teoria bastante critica em relação a este método.
“A eutanásia e o suicídio assistido abriram um novo mercado de doação de órgãos, criando uma crescente fonte a partir da qual os programas de dadores podem receber corpos”, pode ler-se na página do movimento, consciencializando para algumas das consequências da legalização da eutanásia.
Verificando-se este crescimento do tráfico de órgãos, com os atrativos financeiros que isso implicaria, como é que os pacientes poderiam ter a certeza de que o seu médico estava a zelar pelas suas melhoras e não a zelar por outros interesses?
A questão é complexa e abre espaço a múltiplas convicções, contudo para a HOPE a legalização da eutanásia abria pressupostos drásticos, afirmando que, juntamente com a doação de órgãos, estaria “prestes a realizar um casamento de conveniência desastrosamente lucrativo”.
De um lado, a questão assente na defesa da dignidade humana e liberdade individual, pondo fim a uma existência dolorosa, guia os argumentos a favor da despenalização; por outro, e deixando de lado pontos de vista religiosos, levantam-se argumentos em função do papel ético e legal do médico em ajudar um paciente a acabar com a sua própria vida e as funções constitucionais do Estado relativamente ao papel que tem na vida dos seus cidadãos. Longe da parte ética e moral do debate sobre o tema, questões estruturais de desigualdade e processos de mercantilização, em conjunto com a falta de acesso equitativo a cuidados de saúde e condições de vida, devem ser tidas em consideração quando se pensa e discute a eutanásia.
Publicidade


Como qualquer empresa de outro setor, as agências funerárias tentam ser reconhecidas e sair por cima da concorrência, tendo para isso que chamar a atenção dos clientes através do discurso publicitário. Definimos discurso como um objeto sócio histórico que acompanha as práticas dos sujeitos. E todas as afamadas empresas do setor funerário aplicam uma quantia significativa neste parâmetro.
A Hillenbrand, um grande grupo económico detentor de uma das maiores agências funerárias do continente americano, gastou em publicidade cerca de 297 milhões de euros só em 2019, o que não é muito quando comparado com a marca de bens de consumo P&G, que em 2020 gastou o equivalente a 6 mil milhões de euros em publicidade, mas ainda assim uma quantia bastante significativa, sobretudo quando se pensa que a publicidade a agências funerárias é residual.
O cuidado a que têm de estar sujeitas estas empresas do setor funerário faz com que as mesmas tenham outro tipo de cuidados no que toca à publicidade. Tudo isto tendo em conta que este é um setor bastante específico, pois quanto maior número de mortos (estando em maior ou menor número sempre garantidos), mais lucrativo é o negócio.
Normalmente, tendem a puxar mais ao sentimento, como fez a Servilusa com a criação do slogan “consigo nos momentos difíceis” (ver imagem 1), pretendendo criar um laço de gratidão entre a agência e o cliente que já recorreu à mesma em mortes familiares.
Contudo, mais do que puxar ao sentimento, servem-se do humor e da ironia para atenuar o peso do serviço que prestam e facilitar o processo de simpatia do cliente para com a empresa. Como exemplo deste último, apresentamos uma agência funerária brasileira que, orgulhosamente, afirma que “nenhum cliente voltou para reclamar (ver imagem 2).
A publicidade das agências funerárias é apenas mais uma forma de mercantilizar a morte e lucrar com a inevitabilidade da mesma. A morte na publicidade assume, desta forma, um status de mercadoria bastante objetivo.

O Futuro da Morte
De um ponto de vista de análise materialista, não há perspetivas de grandes alterações no fenómeno dentro do próprio modo de produção. O capitalismo continuará a mercantilizar tudo aquilo onde existirem boas hipóteses para lucrar. Em contrapartida, contestações ao nível ético podem surgir em maior número, tendo em conta o cada vez menor desinteresse pelas ritualizações da morte tradicionais e comunitárias.
A nível imediato, medidas como a redistribuição de riqueza e o reforço dos mecanismos do estado social podem atenuar as desigualdades observadas e ajudar quem tem maiores dificuldades económicas, mas todo o processo de mercantilização da morte advém de fenómenos que vão muito para lá de reparações, feitas à priori, e que só existem devido à própria desigualdade.
Repensar a morte e o seu tratamento tem de ser repensar a forma como o ser humano se organiza em sociedade. As influências do modo de produção nas relações sociais fazem com que a mudança tenha obrigatoriamente de ter em conta o próprio sistema capitalista em que nos inserimos e uma análise crítica do mesmo. Faz mais sentido do que nunca questionar a desumanização da morte, e como tal, da própria vida.
No final da conversa em Barão de São Miguel, Fernando deixa-nos um recado, que aqui recordamos – “Continuem a luta!”. Agradece-nos pelo tempo despendido e faz-se à estrada. A “luta”, sabemos agora, ultrapassa, e muito, a própria vida.
Ser solidário, sim, por sobre a morte
Que depois dela só o tempo é forte
E a morte nunca o tempo a redime
Mas sim o amor dos homens que se exprime
José Mário Branco