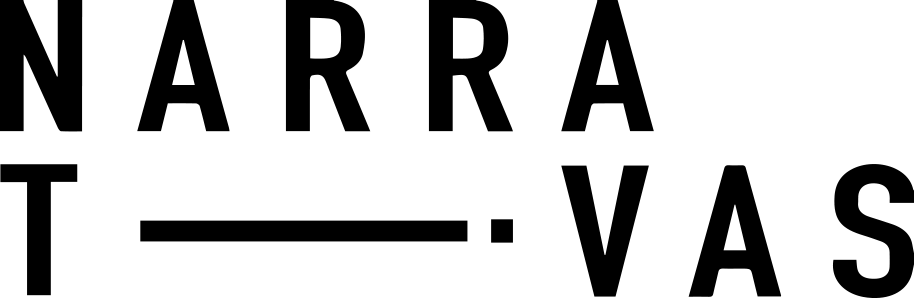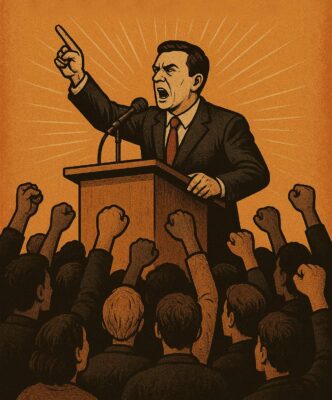A Morte
A Morte Enquanto Despertar da Consciência Social
A morte tem várias vertentes – mais, provavelmente, do que algum dia vamos conseguir explorar. Há mais para além da morte de um ente querido ou de alguém que admiramos; mais para além da ausência daquela alma que para nós era importante.
Beatriz Figueira,Carolina Pereira Soares,Sofia Ah Chak

Há mortes com impactos inesperados e reais, não apenas no indivíduo, mas na sociedade enquanto um todo unido e coeso, como apenas em raras ocasiões está. Mas será que estas mortes permanecem na consciência da sociedade? Será que estamos a deixar o nosso passado morrer e, com ele, as lições que nos ensinou?
A morte de George Floyd no início do ano de 2020 é, muito provavelmente, o exemplo que melhor ilustra o que vamos abordar neste subtema: A Morte enquanto Despertar da Consciência Social. A morte violenta de uma única pessoa sem grande relevância na sociedade norte-americana gerou vagas e vagas de manifestações que se espalharam pelos restantes continentes e alertaram o mundo para o problema que o racismo continua a ser – e não apenas nos Estados Unidos da América.
Na verdade – e há que dizer a verdade – este tema tem o objetivo de responder a uma pergunta muito simples: A Morte pode alterar os pensamentos mais intrínsecos à sociedade? Pode uma morte ter um impacto tão grande que se mudem mentes e se tomem medidas para erguer um sinal de STOP grande e alto e robusto o suficiente para acabar com as injustiças a que assistimos demasiadas vezes na sociedade?
É com esta pergunta em mente que falámos com quatro pessoas diferentes: Monge Appamado, do mosteiro budista da Ericeira; Ana Aresta, Presidente da ILGA Portugal; Myriam Taylor, atriz, empresária e ativista; e Pedro Pereira Neto, sociólogo e professor.
Imolação
«Estava demasiado chocado para chorar, demasiado confuso para tomar notas ou fazer questões, demasiado aturdido para sequer pensar», confessa David Halberstam, o jornalista que esteve presente no momento da imolação de Thich Quang Duc. Tanto a reportagem como a fotografia icónica (da autoria de Malcolm Browne) que a documenta – do monge em posição de lótus, sempre sereno, enquanto chamas emanam do seu corpo – foram premiadas com um Pulitzer e esta última ainda com o prémio de Foto do Ano da World Press Photo.

Foi no dia 11 de junho de 1963 que Duc se imolou contra a política religiosa do Vietnam do Sul, mas ainda nos dias de hoje se sente o impacto gigante que este acontecimento teve na altura – sobretudo por ter posto em causa o regime do Presidente Ngo Dinh Diem – e continua a ter na sociedade.
Biografia: Pedro Pereira Neto licenciou-se em 2002 em Sociologia pelo ISCTE – Instituto Universitário de Lisboa. É mestre em Comunicação, Cultura e Tecnologias da Informação pela mesma universidade e doutorado em ciências sociais na variante da sociologia política pelo ISCTE.
Desde cedo começou a desenvolver projetos de investigação nas áreas da comunicação, da política e da cultura. Atualmente, é professor na Escola Superior de Comunicação Social do Instituto Politécnico de Lisboa.
“A morte auto-induzida para tentar inspirar mudança”

«Porque é que aqui estamos?» Esta é uma das questões existenciais com as quais todos nós nos deparamos durante a nossa vida, mas o Monge Appamado, que sempre se interessou pela espiritualidade, começou aos 18 anos a procurar respostas de forma mais ativa, estudando várias correntes filosóficas. Contudo, afirma que «não estava à procura de nenhuma religião em particular, estava simplesmente a tentar aprofundar o seu caminho.» Neste sentido, por volta dos 22 anos começou o interesse, mais aprofundado, pela meditação – « […] os momentos de silêncio e de interiorização começaram a ser muito ricos; comecei a aperceber-me de que o apaziguamento da mente e do coração me dava um novo espaço e uma nova abrangência da forma como lidar comigo próprio, com o universo, com a sociedade.» Anos mais tarde, surgiu a possibilidade de ir para um mosteiro na Inglaterra, sendo um grande marco no seu percurso, dado que acabou por se identificar com esse modo de vida. Com o passar do tempo, foi colocando a hipótese de realmente envergar pelo caminho do budismo, uma vez que a sua vida cá fora tinha «o mesmo propósito que os mosteiros». Hoje, tem 43 anos e reside no Mosteiro Budista Sumedharama, na Ericeira.
Para partilhar connosco a perspetiva budista sobre como a imolação pode ter consequências transformadoras na sociedade, o Monge Appamado, sempre muito sereno, empático e de uma simplicidade pacífica, convidou-nos a fazer uma visita ao Mosteiro.
O caso de Orlando
A 12 de junho de 2016 um homem entrou numa discoteca em Orlando, Florida. Nada havia de particular na Pulse, tirando o facto de ser uma discoteca LGBTI e estar repleta de pessoas da comunidade. Esse, aparentemente, foi o motivo do terrível massacre que seguiu a entrada do homem, armado com semiautomáticas e um preconceito ardente. Morreram 50 pessoas nessa noite e as implicações destas mortes não se ficaram pelos Estados Unidos. «Orlando ficará na nossa memória e ficará na história dos atos homofóbicos e transfóbicos», afirma Ana Aresta Presidente da Associação ILGA Portugal, que luta pelos direitos LGBTI.
O “oeste selvagem” armado
Ana Aresta identifica-se como mulher lésbica – e faz questão de o dizer e com orgulho. «Sou a Ana», diz com um sorriso. Licenciou-se no Instituto Politécnico do Porto em Gestão do Património, mas pouco a pouco foi-se virando para a área da comunicação, onde agora trabalha a tempo inteiro – um trabalho que mantém separado do que faz na ILGA, o qual é voluntário e não remunerado. Descobriu a associação em 2011 quando veio para Lisboa fazer mestrado e nunca mais a largou, tornando-se presidente em 2019, após já ter passado pelo cargo de vice-presidente em 2016, o ano do atentado.
Ana contou-nos o que sentiu quando soube o que tinha acontecido em Orlando: «Foi assustador. Foi, de facto, avassalador e foi também avassalador perceber que havia muitos movimentos a rejeitar que aquilo tinha sido um ato de homofobia e discriminação, quando na verdade foi.» O clima era de medo e de insegurança na comunidade LGBTI mesmo em Portugal, um país onde este tipo de coisas ‘não acontece’. No entanto, disse-nos também que se a primeira reação foi a de retração (pois inúmeras pessoas se retraíram nos seus processos de saída do armário) e de medo, a imediatamente a seguir foi a de «não podemos desistir». E, de facto, não desistiram.






Fonte: ILGA Portugal (3 e 8); dezanove (restantes); Publicação: 20 junho 2016 (3 e 8); 15 junho 2016 (restantes)
No rescaldo do massacre
A 15 de junho foi organizada uma vigília em Portugal pelos assassinados em Orlando, que contou com mais de duas centenas de pessoas. E quando a 18 de junho milhares de portugueses se juntaram à Marcha do Orgulho foi com afirmações como “Não aos homicídios” e “Orlando é aqui” que desceram do Príncipe Real até à Ribeira das Naus, em Lisboa. «[…] houve uma série de ondas de solidariedade, mas elas não são só de solidariedade – e isso é importante. Essas manifestações foram de afirmação […]. Elas estão a dizer: apesar do medo, eu estou aqui; apesar do medo, eu existo», disse-nos Ana Aresta ao falar sobre as repercussões do massacre de Orlando.
Mas a grande questão é: estas mortes consciencializaram as pessoas para o problema da homofobia e transfobia no mundo? O apoio nesse ano nas marchas do Orgulho é inegável, mas e depois? «[…] infelizmente, sempre que acontecem atos dramáticos como este as discussões… Elas existem, mas são muito polarizadas», afirma Ana Aresta, «[…]é um debate de fé. Há uns que acreditam num determinado caminho e há outros que acreditam noutro. E este acreditar, esta fé, muitas vezes é cega, portanto, não há espaço para diálogo, não há espaço para educar.» No entanto, disse-nos também que este caso em particular teve repercussões positivas em Portugal, no sentido em que empoderou pessoas LGBTI a se afirmarem publicamente. A Presidente da ILGA realça o coming out de Rui Maria Pêgo – locutor de rádio e figura pública – logo no rescaldo do massacre.
“O primeiro obstáculo para a mudança”
A caminhada da sociedade
Ana Aresta atribui estas manifestações em sociedade contra atentados como o de Orlando à mediatização, «[…] as pessoas reagem muito mais facilmente a eventos drásticos porque nós estamos a ser condicionados e condicionadas nesse sentido: ou tudo é muito bom ou tudo é muito mau. E quando é muito mau é ainda pior.» Mas isso significa que acontecimentos como este mudam a sociedade? A resposta de Ana Aresta é não. Massacres, assassinatos e torturas que vêm a público têm de facto um impacto que, por vezes, se estende por todo o mundo como foi o caso de George Floyd, mas não permanecem presentes como uma lembrança do que pode acontecer se deixarmos de prestar atenção – não educam e não constroem algo novo, tolerante e respeitoso. «Como são muito pontuais no tempo, existe um grande pico de debate e depois fecha-se o debate e depois volta a acontecer uma situação dramática e volta-se a debater. Ele é pouco trabalhado e é pouco pensado do ponto de vista estrutural.»
O que quer isto dizer para a luta pelos direitos humanos e pelos direitos LGBTI? Para Ana Aresta isto significa que a nossa caminhada enquanto sociedade em direção a um futuro com menos discriminação ainda está longe de acabar.
O caso de Bruno Candé






Fontes: A – DIOGO MIGUEL VENTURA, B – DW/J. Carlos, C – DW/J. Carlos, D – MIGUEL A. LOPES/LUSA,
E – MANUEL FERNANDO ARAUJO, F – LUSA
Foi a meio do verão de 2020 que Portugal foi abalado pela notícia do assassinato de Bruno Candé: ator da companhia de teatro Casa Conveniente, filho de guineenses e pai de três crianças. Candé foi baleado quatro vezes por um homem de 80 anos que, segundo testemunhas, proferiu comentários racistas antes de disparar. A morte do ator gerou ondas de descontentamento, revolta e solidariedade, num pedido comum para acabar com o racismo em Portugal.
No entanto, deu-se a polarização do debate – tal como aconteceu com o caso de Orlando – e os portugueses dividiram-se, não só quanto ao facto de o assassinato ter sido um ato de racismo, mas também quanto ao facto de Portugal ser um país racista.

Fonte: Muxima/Gonçalo Claro
Myriam Taylor também é atriz em Portugal. Filha de pais angolanos, mas nascida em 1976 em Portugal, licenciou-se em teatro político em Londres e trabalhou com o Teatro do Oprimido, e com o seu criador Augusto Boal, durante anos. Desde cedo sentiu que era diferente, ou que, pelo menos, a tratavam de forma diferente – sentiu o preconceito. «Na minha cabeça era “Opá, estão-me a dizer para ir para a minha terra, mas eu sou da Albufeira. Vou para Albufeira fazer o quê?”», Disse-nos, fazendo o seu sotaque algarvio. Mas a discriminação que sentiu desde criança apenas serviu para provocar em si uma vontade de se impor e de se munir de argumentos contra a sociedade que ateimava em a não legitimar. Hoje, para além de atriz, também tem a sua própria empresa, a Muxima Bio, é apresentadora num programa da RTP, coordena o movimento “Em Desconstrução”, é lobista e luta todos os dias para que os seus pares possam viver numa sociedade mais justa.
Vamos reverter os papéis
O caso de Bruno Candé foi apenas um entre muitos para Myriam. Na conversa com ela, disse-nos diversos nomes que também foram vítimas de violência nascida do preconceito e do racismo – mas essas pessoas não chegaram às notícias. Para Myriam um dos grandes problemas, e uma das coisas mais tristes, neste caso prendeu-se exatamente com a questão da cobertura dos jornais. «No início, nos principais telejornais, […] o Bruno não tinha nome, não tinha profissão. Davam a entender que era um delinquente de rua e quase que desculpabilizavam o “pobre” reformado. […] o assassino tinha nome, era quase um pobre homem», disse, não deixando de se sentir revoltada com a situação. Logo de seguida propôs-nos um exercício muito simples: reverter os papéis. E se Bruno fosse um homem branco, com três filhos e com dificuldades motoras, devido um acidente anterior, e o seu vizinho negro de 80 anos o baleasse? «Tentem só inverter as coisas e colocar diferentes tons de pele nas pessoas para ver se seria o mesmo», pediu. «[…] o absurdo foi normalizado. O racismo foi normalizado. […] uma vida negra tem muito menos valor do que uma vida branca.»
“O racismo está vivo e de boa saúde”
Outra das razões que deixou Myriam particularmente triste foi a posição do Presidente da República: «[…] acho absurdo que o Marcelo Rebelo de Sousa não se tenha pronunciado, porque foi um crime de ódio na praça pública» e em plena luz do dia, não esqueçamos. Bruno Candé foi assassinado às 13h na Avenida de Moscavide, no concelho de Loures. E apesar de ser louvável a ação dos transeuntes que apreenderam o assassino e chamaram as autoridades, será que o nome Bruno Candé teve o impacto? Ainda o lembramos e com ele o problema do racismo na nossa sociedade? Myriam Taylor tem uma postura muito negativa, e talvez realista, quanto a isto. Diz que as pessoas foram « […] apenas levadas pela mediatização do momento, mas na verdade não temos mudanças estruturais. […] Bruno Candé aconteceu, mas as pessoas já esqueceram.»
O passado cancerígeno
A problemática, segundo a atriz, prende-se não só com o facto de a sociedade portuguesa nem sequer admitir que é estruturalmente racista – mesmo com o historial para o provar- mas também com o facto de as nossas forças de segurança estarem “contaminadas” pelo trabalho do Estado Novo, na altura da Guerra Colonial, em criar narrativas que desumanizavam a comunidade negra. « […] houve até alguém que teve uma ideia de fazer uma exposição de troféus de guerra. Estamos a falar de testículos cortados, de orelhas cortadas, narizes cortados. Esta é a realidade do nosso país», contou-nos. E « […] essas mesmas pessoas que lutaram na Guerra do Ultramar e que mataram milhares de pessoas negras e estupraram e foram aqueles que nos violaram as avós […] treinaram os polícias de hoje. Nós temos um cancro no nosso corpo militar.» E não é desprovida de argumentos que Myriam Taylor diz isto: afinal de contas, o assassino de Bruno Candé não só lutou na Guerra Colonial como também usou uma arma roubada à PSP para matar o ator. Myriam culpa o nosso Estado e o nosso Governo por não ter tido o cuidado de reeducar tanto os militares como a população em geral e desconstruir as narrativas racistas e preconceituosas do Estado Novo.
No fundo, colocamos a mesma questão de Myriam Taylor: Bruno Candé serviu para quê?