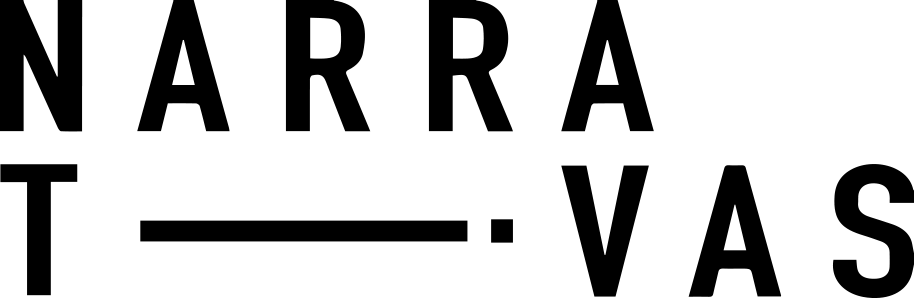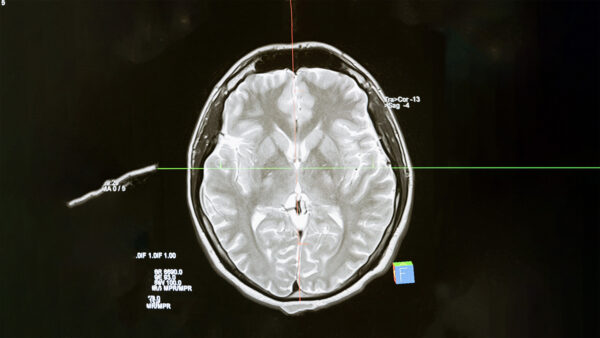A Morte
(con)Viver com o Luto
A morte acontece todos os dias e, todos os dias, um adeus ou um até já - dependendo da perspetiva - pode provocar um sentimento de pura agonia e desconforto. São estes alguns dos sentimentos que caraterizam o processo de luto.
Ana Francisca Jones, Joana Margarida Fialho, Margarida Rodrigues
Ilustração @nottsamo_

O luto foi definido pelo Instituto Nacional de Emergência Médica como um processo que se desenrola face a uma perda significativa. É uma adaptação da vida ao sentimento de perda e envolve uma série de tarefas ou fases de modo a que o equilíbrio seja alcançado. Muitos profissionais de saúde que acompanham doentes terminais e pessoas que tenham uma doença que lhes ameaça a vida, que lhes causa sofrimento ou que precisem de um acompanhamento mais especializado também vivem os seus lutos diariamente. São estas as pessoas que também acabam por ter um papel preponderante no processo de luto dos familiares e dos amigos da pessoa que partiu.
Continuar a cuidar mesmo depois da morte
Elsa Mourão nunca tinha pensado em ser médica até perceber que podia ser uma médica diferente. Trabalhou no INEM, onde conheceu o marido, passando depois para a emergência hospitalar. Foi aí que percebeu que queria trabalhar nos cuidados paliativos*, porque quando as pessoas ficam gravemente doentes algumas passam o resto dos seus dias sem o acompanhamento e atenção devida: “Quando não há nada para oferecer à doença há muito para oferecer à pessoa”.
Consequentemente, surgiu o sonho de fazer cuidados paliativos em casa. Elsa e o seu marido quiseram criar uma organização que fizesse essa ponte e assim surgiu a Instituição que atualmente dirige. Em agosto de 2015, começaram a receber os seus primeiros doentes. Podem acompanhá-los por alguns dias, meses ou até anos – ao contrário daquilo que se pensa, os “cuidados paliativos não são cuidados de fim de vida”.
Também em 2015, Ana Almeida enveredou pela área dos cuidados paliativos e no ano seguinte começou a colaborar com esta Instituição, onde é, atualmente, coordenadora da equipa de enfermagem. Enfermeira desde 2009, Ana partilha a visão de Elsa de que “nos hospitais [se trata], não se cuida”. Assim, procurou fazer parte de uma organização onde as pessoas fossem cuidadas e tratadas independentemente da doença – “A doença foi uma coisa que lhes aconteceu e não aquilo que os define”.
Ambas as profissionais de saúde falam-nos da morte de uma forma natural. Ana gostaria de conseguir preparar e organizar a sua morte e acredita que todos nós estamos já a preparar a nossa de forma inconsciente. O seu objetivo, enquanto profissional de saúde, é fazer com que as pessoas possam viver plenamente até ao momento da sua partida, sem atrasar nem adiantar nada. Tal como a médica Elsa, considera que a esperança é uma componente importante: não a esperança de ainda viver muitos anos, mas aquela que faça o doente pensar naquilo que pode fazer hoje “para deixar um bocadinho de [si] nos outros”.
Elsa vê a morte como um momento “bonito” de transcendência e “um ato sagrado e simbólico”. Este modo de encarar a morte ajuda-a nos seus próprios lutos e conta-nos que está pronta para a morte quando chegar a sua hora, porque está tranquila com a vida que teve, está feliz.
Um papel importante dos profissionais de saúde é o apoio que prestam àqueles que ficam. Tentam perceber se já houve lutos anteriores e que recursos precisam de ser acionados para apoiar aquela família, amigo ou cuidador.
O luto não é só feito quando alguém morre. “As pessoas já estão a viver, muitas das vezes, o luto de uma pessoa que ainda está viva. Porque as pessoas já não têm a mesma capacidade, começam a ficar dependentes: não são a mesma pessoa que conheceram antes da doença”, reconhece Ana.
O modo como se dá a notícia é fulcral. A organização tem um apoio telefónico de 24h – por vezes a pessoa morre durante a visita de uma enfermeira, outras vezes são os próprios familiares ou cuidadores a ligarem para a Instituição.
Elsa sente que ao estar serena com a morte do paciente conseguirá dar a notícia de uma melhor forma, respeitando sempre as crenças e as reações de quem a recebe: “Por muitas mortes que eu tenha visto, por muito normal que isso possa ser para mim, por muito que eu perceba que aquela pessoa já tinha uma morte anunciada, para o familiar ou amigo que recebe a notícia esta morte é sempre única”.
Nos cuidados paliativos há uma preparação para quem acompanha o doente, em que os profissionais de saúde explicam aquilo que vai acontecendo clinicamente, por isso, as reações são, normalmente, de “serenidade e tranquilidade”.
Para a enfermeira Ana, o luto “é uma oportunidade imensa de crescer e de tentar ver as coisas pelo lado do crescimento pessoal e por aquilo que nos vai trazer em vez daquilo que nos vai tirar”

Lídia Rego é outra profissional de saúde que também trabalha para a LInQUE. É psicóloga e, apesar de ter um trabalho fundamental no processo do luto, garante que a psicologia não tem de estar sempre envolvida – “Este é um processo normal e natural. Não é uma doença onde se tenha, forçosamente, de se fazer uma intervenção. Na maior parte das vezes em que alguém perde uma pessoa importante na sua vida, o luto é feito de uma forma natural”. Do seu ponto de vista, só quando esta normalidade não se verifica é que se deve recorrer a um psicólogo, que “lima as arestas que não parecem tão saudáveis e ajuda a pessoa no processo de adaptação” ou a um psicoterapeuta, quando se trata de um caso mais traumático ou depressivo.
A psicóloga salienta que “a experiência de perda é sempre complicada”. No entanto, considera a morte súbita algo com o qual é mais difícil de lidar, o que a leva a ter mais atenção quando tem em mãos um caso desses. Refere ainda que é crucial avaliar cada situação e perceber se houve ou não espaço para uma preparação – “Este é o principal objetivo da LInQUE – ajudar e preparar a pessoa para um futuro sem o outro, quando isto é previsível”.
A LInQUE possui um protocolo de luto. Com ele, tentam perceber se a família está presente, se estão cientes da gravidade da doença e, acima de tudo, se estão preparados para acompanhar o agravamento da mesma. Esta avaliação não é só feita pelos psicólogos, mas sim por qualquer profissional de saúde que acompanha a família – “Temos por costume estar presentes nos rituais. Costumamos telefonar e fazer uma visita de luto. Esta visita é feita pela pessoa da equipa que teve mais ligação com a família. Tentamos perceber como é que está a família e oferecemos apoio mesmo que não sintamos que seja necessário. Os cuidados não terminam com a morte do familiar”. Só após seis meses da sua morte é que este acompanhamento termina, caso não seja necessário continuá-lo.
Para Lídia, é muito importante as pessoas falarem da sua perda e da morte em si. “Este assunto não pode ser um tabu. As pessoas têm de estar à vontade para relembrar quem perderam e sentir saudades. Espero que isto passe a ser falado até porque, com a Covid-19, a morte invadiu a nossa casa todos os dias. Acho que as pessoas têm de perceber como se pode lidar com este assunto e qual é a importância que os rituais da morte e que a presença do outro têm neste processo”.
“Só podemos falar de luto se falarmos de amor”
Cristina Felizardo é terapeuta do luto e começa por nos explicar que esta profissão não se insere na área da saúde. O facto de as pessoas acreditarem que a área do luto está confinada à área da psicologia e da psiquiatria é um “mito urbano” e o trabalho de doutoramento da terapeuta incide exatamente sobre esta questão – o perfil do profissional que pode e deve exercer aconselhamento no luto. A área da saúde, da psicologia, do serviço social e da educação são as quatro áreas principais que são identificadas como as que devem receber este tipo de formação – são estas as áreas que dão um saber científico cujas caraterísticas são essenciais para o domínio do luto.

É de sorriso no rosto que nos conta o seu percurso, nem sempre fácil: “Comecei cheia de boa vontade, energia e muita positividade no sangue em relação ao ativismo social”. Envereda pelo caminho do Serviço Social e, após concluir a licenciatura, trabalha na área da infância e até nas áreas para as quais pensava, inicialmente, ter menos aptidão – terceira idade e deficiência. “Estava a viver o sonho prometido para a felicidade”, confessa.
Aos 28 anos engravida. A magia do momento dura 12 horas, até Cristina perceber que havia algo que não estava bem. Afirma que a partir daí foi “efeito bola de neve”: a terapeuta e o filho acabaram por ir para os cuidados intensivos, espaço que foi a casa de ambos durante dois anos e meio. “Perdi o meu filho sonhado, porque eu, como uma boa grávida e como qualquer outra pessoa, queria que ele viesse sãozinho”, explica. A partir daí, a terapeuta passa por um processo de luto ao qual se dá o nome de perda de fantasia de afeto – acontece após o nascimento de um filho deficiente. Na verdade, o menino nasceu com uma síndrome tão rara que, na altura, nem nome tinha.
Após perdas sucessivas, Cristina decide voltar a estudar e torna-se mestre em Avaliação e Educação pela Universidade de Aveiro. É aqui que surge o luto na vida de Cristina – o mestrado faz com que a terapeuta comece a trabalhar sobre as questões do luto após o nascimento de um filho deficiente. É também nesta altura que funda uma associação de apoio a famílias de crianças com necessidades especiais. Cristina fica com o “bichinho do luto” e, por isso, realiza um curso de especialização em Aconselhamento no Luto.
A sua vontade de crescer levou-a a fundar o seu próprio espaço – o CFeliz. “Aquilo em que eu acredito é que o luto é o processo para restaurar ou recuperar harmonia perdida, a nossa felicidade que é o bem-estar subjetivo”, conta.
A Desconstrução e Desmistificação da Ideia de Luto
Há 12 anos que Cristina desbrava o caminho do luto através de palestras, de conferências, de seminários e até da televisão, onde já trabalha há oito anos. Cristina desconstrói e desmistifica a ideia tradicional de luto: o luto é de facto um “processo que decorre após uma perda significativa”, no entanto, estas perdas, que desencadeiam um processo de adaptação e ajustamento, podem ser reais – por morte – ou simbólicas.
Existe todo um conjunto de perdas simbólicas que são, sobretudo, perdas de expectativas: divórcio ou separação conjugal; perda de um amigo ou de uma amizade; emigração; perda de fantasia de afeto (nascimento de um filho deficiente); perda estacional (aborto); desvalorização social (desemprego); perda por dano ou amor próprio (no caso da amputação de um membro ou de uma histerectomia, por exemplo, ou quando o corpo vai perdendo as suas funções autónomas por algumas doenças degenerativas); perda censurada (perdas que não têm enquadramento social – relacionamentos extraconjugais ou do luto por perda de ídolos e por perda de um animal de estimação).
A maior parte das pessoas que sofrem estas perdas, muitas vezes, nem têm a consciência de que estão a passar por um processo de luto. Cristina explica que “culturalmente, este assunto ainda é tabu”. Muitas pessoas, depois de perceberem que estavam em processo de luto, partilham com Cristina que sentem um apaziguamento ao sentirem que existe uma validação daquela dor e daquele sofrimento. A terapeuta esclarece que o sentimento que vem na sequência de uma perda tem de ser vivido e esgotado para a pessoa encontrar uma nova harmonia.
A caraterística ou sintoma base que carateriza o luto é o anseio – sensação de agonia que nos desassossega em qualquer contexto. “Só estou bem onde não estou” é a expressão que Cristina utiliza para a definição de luto. “Há um permanente desencontro e uma permanente busca”, acrescenta.
Cristina explica que não existe uma forma de se viver o luto. Os fatores internos de cada pessoa influenciam as caraterísticas do processo: “Para aquela pessoa que traz até mim o seu processo de luto não existe outro”. “Em luto por morte há uma tendência cultural para cristalizarmos aquela pessoa, há uma glorificação da pessoa”, explica Cristina, acrescentando que isto são factos e que este aspeto nem sempre ajuda no processo.
A terapeuta considera que é obrigatório estar bem resolvida consigo mesma para conseguir ajudar os outros. “Eu cheguei até aqui precisamente por ter um filho com necessidades especiais, devido às suas malformações congénitas nos órgãos vitais – coração e pulmão. Em 12 anos, tive eu própria que parar muita vez para dar tempo a mim mesma para me reorganizar”, exemplifica.
Depois de um desses momentos em que teve de parar para se reorganizar, Cristina apoiou uma pessoa cuja vida podia ter sido a dela – “Ao que lhe aconteceu eu escapei por uma unha muito negra. Era como se eu estivesse constantemente a ser recordada, sessão após sessão, do que é que eu podia estar a viver naquele momento. E isso foi difícil”. Durante este caso, Cristina conseguiu trabalhar em si o poder da gratidão: “Podia ter-me acontecido a mim. Eu podia ser exatamente aquela senhora naquele momento. Então eu tinha o dever de viver a vida com a preciosidade que ela tem”.
O Luto em Tempos de Pandemia
Em tempos de Pandemia, o luto é muito mais difícil de ser vivido, no entanto, Cristina reconhece que “os estudos que vão existir daqui em diante sobre o luto é que nos vão dar as conclusões sobre o impacto que isto teve na saúde mental das pessoas”.
De facto, a alteração dos rituais culturais de forma tão drástica e tão profunda aumenta a probabilidade de ocorrer luto traumático, ou seja, luto com base em psicopatologia – desenvolve-se doença mental, como a depressão – “O luto é um fenómeno natural. Com trauma, fica mais prolongado e mais doloroso no tempo”.
Nas mortes por COVID-19, não existe a segurança e o conforto que os rituais, como a prestação de homenagem e o ritual de despedida, dão. “Eu já estou a apoiar pessoas cujos familiares perderam desde março até agora. E é violento”, afirma Cristina.
Segundo a terapeuta, o confinamento representa a perda do plano prometido para a felicidade, que é a certeza de um plano ilusório que nós sentimos de forma muito convicta: “Quando todos começámos este ano, os pais tinham a certeza de onde já iam passar o Natal e o fim de ano”. Cristina considera que o vírus nos trouxe a certeza de que a vida corre no plano A. Afirma, ainda, que os sintomas que as pessoas sentem nesta época de confinamento são sintomas compatíveis com um processo de luto – “Foi a perda da vida prometida para a felicidade”.
O (in)esperado fim
Sílvia perdeu o seu filho Sérgio, de 18 anos, a 20 de junho de 2020, devido a uma doença genética – fibrose cística -, que deveria ter sido detetada à nascença. No entanto, a doença só foi diagnosticada quando Sérgio tinha 7 anos, após ter sido diversas vezes medicado para outras patologias.

O principal sintoma que chamou a atenção desta mãe passava pelas bronquiolites constantes, que representam um dos sinais elementares da doença. Sílvia conta-nos que começou a achar estranho o facto de o filho estar constantemente doente e, por isso, decidiram ir ao hospital, onde acabou por ficar internado três meses à conta de um “vírus”. No fim do internamento, disseram-lhe que Sérgio tinha asma crónica e começou a ser medicado, o que o fez desenvolver cirrose hepática devido aos comprimidos que lhe foram receitados para combater uma doença completamente diferente daquela que lhe viria a ser diagnosticada. As idas ao hospital continuaram a ser frequentes e a doença só foi realmente detetada quando uma médica se interessou pelo caso do seu filho.
O choque do diagnóstico
Sílvia confessa que foi um grande choque quando soube do diagnóstico e que o facto de não ter qualquer conhecimento sobre a doença a deixou ainda mais preocupada – “O Sérgio sempre foi uma criança muito feliz e normal. Quando soube da doença, foi um choque. Eu não sabia nada sobre a fibrose cística. Quando saí do consultório fui pesquisar à Internet e foi horrível”. Conta-nos ainda que os profissionais de saúde foram sempre sinceros no que dizia respeito ao tempo de vida de Sérgio – “Foi-nos logo dito que, de todos os meninos que têm esta doença, poucos são os que sobrevivem. Raramente passam dos 18 anos.” – e que ela própria sempre tentou manter essa transparência com o filho – “Eu sempre tive uma boa ligação com os meus filhos e, quanto ao Sérgio, sempre lhe expliquei tudo sobre a sua condição. Ele só começou a ter noção da doença aos 11 anos e esteve em fase de negação durante muito tempo. Tinha muita revolta dentro dele e, muitas das vezes, descarregava em mim”.
Sílvia tentou, várias vezes, abordar o tema da morte com o filho. No entanto, diz-nos que ele sempre desviou o assunto e que só na última semana de vida é que teve a noção de que iria morrer.
Sílvia revela-nos que a doença começou a agravar-se muito e que, nos últimos dias de vida, Sérgio ligou-lhe desesperado a dizer que “se era para morrer, queria ir morrer a casa”. “Ele sentiu-se abandonado. Como já tinha 18 anos eu não podia estar lá sempre com ele e, com a situação da COVID-19, as coisas pioraram e as visitas foram quase proibidas. Ele lidou muito mal com isso e achava que nós o tínhamos abandonado”, explica.
Admite ainda que, nesta altura, se esqueceu completamente da pandemia e do mundo lá fora – “A pandemia passou-me completamente ao lado. Muitas das vezes entrava no hospital sem máscara, porque nem me lembrava que isso existia. Cheguei ao ponto de achar que a doença era uma parvoíce e de pensar sobre o porquê disto tudo. Quando tu vês um filho teu a morrer numa cama de hospital, queres recuperar todos os momentos com ele. Mais nada te importa”.
A chegada do fim
Na última semana de vida de Sérgio, Sílvia conta-nos que todos os amigos do filho fizeram um vídeo para lhe dar força. Confessa que quando foi ao hospital mostrar-lhe a surpresa que lhe tinham feito ia com medo da sua reação – “O Sérgio nunca quis contar aos amigos sobre a sua doença. Durante a vida toda escondeu a condição em que estava, mas os amigos acabaram por saber.” Apesar disso, Sílvia diz-nos que Sérgio “adorou a surpresa” e que lhe pediu para fazer videochamada com os amigos – “Ele sabia que não se voltariam a falar. Na conversa, mandou um recado para todos e disse que os levava com ele. A um dos amigos pediu que, no seu funeral, fosse na sua mota atrás da carrinha funerária”.
Esta mãe revela que, no fundo, sabia que ele não iria ultrapassar a doença. – “Claro que sempre tive esperança, mas, no fundo, sabia que ele não ia sobreviver. Lembro-me de uma enfermeira perguntar-me se tinha fé. Eu respondi-lhe: acha? Como é que eu posso ter fé? O que é que o meu filho fez para estar assim?”
Sérgio faleceu num domingo. Na sexta-feira anterior, Sílvia diz-nos que foi o último dia em que ele conseguiu falar e que lhe ligou para lhe dizer “Eu amo-te muito, mãe. És a mulher da minha vida, mas eu já não aguento mais.” Diz-nos que nunca se está preparado para isto e que “nunca acreditamos que uma coisa destas possa acontecer”.
Um funeral em plena pandemia
Quando soube que Sérgio tinha falecido, Sílvia diz-nos que não conseguiu tratar de nada – “Pedi a uma amiga que ligasse para o Pedro – um amigo em comum que tem uma agência funerária – e que lhe dissesse para ele vir o mais rápido possível à minha casa. Na altura, lembro-me de falar com ele e de lhe implorar para que arranjasse uma forma de ter todas as pessoas presentes no funeral do Sérgio. Ele disse-me que ia tentar, mas que seria complicado tendo em conta que os funerais só podiam ter 10 pessoas presentes”.
No entanto, não foi isso que aconteceu. Todos os amigos e familiares puderam acompanhar a cerimónia fúnebre. Sílvia confessa que isso a reconfortou – “Foi muito importante para mim terem estado lá todos. Na parte do crematório só podiam estar 10 pessoas, mas acho que Deus nos ouviu e o padre deu autorização para que a missa fosse dada cá fora por respeito a todas as pessoas que lá estavam. Se tivesse sido como é agora, era muito mais complicado”.
Os últimos pedidos de Sérgio, ainda em vida, foram cumpridos: Sílvia levou a camisola azul que o filho pediu e a sua mota seguiu atrás da carrinha funerária, onde estava o seu caixão.
Como se vive depois da morte de um filho?
Sílvia diz que nunca se está preparado para a perda de um filho e que reviver este pesadelo foi complicado – “Já perdi um filho antes. O Sérgio é o segundo. E não é fácil. Esta dor fica contigo para sempre. Optei por não falar com ninguém sobre isto. Quanto menos eu falar, melhor para mim. É uma forma de eu me defender. A dor é sempre a mesma e eu já tenho a experiência do Marcelo, o primeiro filho que perdi”.
Após o funeral, Sílvia começou a ser seguida por um profissional de saúde e medicada, no entanto, optou por deixar a medicação devido à experiência que teve anteriormente. Confessa que se tornou numa pessoa mais fria e revoltada com a vida.
Diz-nos que o luto tem sido muito complicado e que, ao início, não acreditava que ele tinha morrido. Questiona-se várias vezes o porquê de ter sido ele a partir e não ela.
Sílvia conta-nos ainda como foi difícil regressar à sua vida e que as suas filhas têm sido um importante pilar. Revela-nos que, durante muitos anos, viveu em função de Sérgio e que, agora, se apercebe de que falhou com as suas outras duas filhas – “Eu vivi anos em função do Sérgio e não tive noção de que abandonei as minhas filhas. Não dei por nada durante anos. Fi-lo inconscientemente. Elas sabiam que ele precisava mais de mim, mas aí eu falhei como mãe”.
Confessa ter perdido a vontade de viver, mas que acabou por se acostumar à dor – “Há dias em que não tenho paciência para nada e acaba por se tornar complicado estar em qualquer lado. Vou levando a vida à espera que chegue o dia em que vá ter com ele. Nunca fui muito de desabafar com as pessoas. Prefiro ficar no meu canto, junto das cinzas do meu filho e é aí que grito e choro aquilo que quiser”.
O luto começa numa sexta-feira de agosto
Ana Ramalho perdeu o filho Pedro Miguel. Foi o seu primeiro filho. Descreve-o como sendo cuidadoso e bom aluno e destaca o seu gosto pela leitura e pela escrita. Foi-lhe diagnosticada esquizofrenia aos 23 anos. Nessa altura, começou a ficar desmotivado, isolando-se muito tempo no seu quarto. Quando deixou de tomar os medicamentos a doença começou a progredir.

No dia 22 de agosto, numa sexta-feira, “saiu de manhã e não entrou mais [em casa]”, lembra Ana. Esteve envolvido num grave acidente de comboio, falecendo aos 27 anos. Quando chegou ao hospital e viu o filho não queria acreditar que era ele.
“Foi um luto muito doloroso”, conta. Não conseguia sentir alegria e, por isso, deixou as cores garridas e passou a usar o preto e o branco apenas – comprou um avental cinzento para substituir o vermelho que já tinha. Não conseguia ouvir música e até o som das pessoas a rirem-se lhe faziam impressão.
Um grande apoio foi o seu outro filho, João Carlos, que sempre respeitou o luto da mãe. O primeiro Natal foi um período difícil. O dia 25 de dezembro não foi comemorado. A alegria de estar com a família, neste dia, foi substituída por uma tristeza profunda e o sentimento de que faltava alguém à mesa. Só quando passaram dois anos desde que Pedro faleceu é que a casa começou a ficar decorada nesta altura do ano. Foi Carlos que incentivou a mãe, relembrando-lhe que o irmão continuava com eles, apenas de uma forma diferente.
João Carlos desenhou a campa do irmão e escolheu o granito – “era uma campa diferente de todas”, confessa Ana. Pedro Miguel gostava muito de branco, por isso o caixão era de cor clara. Recorda-se de que veio muita gente ao funeral e que continuavam a ir à campa de Pedro, que estava sempre muito “bonita com flores”. Estas flores estavam colocadas em três vasos em cima da campa, onde Ana colocava os arranjos.
O quarto permaneceu durante muito tempo como o filho o tinha deixado e foi difícil, para a mãe, doar as roupas de Pedro Miguel.
Este não foi o primeiro luto de Ana. O seu marido faleceu, também numa sexta-feira de agosto, com cancro. Este dia da semana e mês não lhe trazem boas recordações, já que perdeu dois pilares, o marido e o filho, exatamente numa sexta-feira de agosto com três anos de diferença. Continuam os dois muitos presentes na sua vida e gosta de se lembrar daquilo que faziam juntos.
Considera-se uma pessoa muito realista em relação à morte. Compreende que todos temos um tempo limite e que “a morte é algo natural, porque as pessoas têm o seu ciclo de vida”. Ana confessa que não é como as outras pessoas que, quando alguém morre, tendem a tirar as suas fotografias: “mandei fazer um poster e tenho fotografias espalhadas pela casa”.
Fotografia cedida por Ana Ramalho
Passaram 20 anos desde o acidente. Em todos os aniversários do filho, vai ao cemitério visitá-lo.
A tristeza também tem cor
Maria Catarina Vieira é uma mulher de 56 anos e de etnia cigana, que perdeu o marido há dois anos e meio devido a um cancro. Atualmente, trabalha como mediadora intercultural numa escola do Barreiro.
Maria começa por nos explicar que o luto na comunidade cigana é vivido de uma forma bastante diferente, com regras e rituais específicos. Para ela, o sentimento de perda é comum a todo o ser humano, no entanto, acredita que os ciganos sentem mais necessidade de demonstrar a sua tristeza.
O luto mais pesado na comunidade é o das viúvas, que dura a vida toda. A mulher deve cortar o cabelo, por este ser uma representação da beleza da mulher cigana, que, após perder o marido, não deve ser olhada por mais ninguém. Com gestos cuidadosos, explica-nos como coloca o lenço preto que traz na cabeça e que lhe esconde a infelicidade no rosto. Não lhe é permitido usar qualquer jóia ou qualquer peça de vestuário que não seja de cor preta e conta-nos como a vida dela mudou desde então.
No entanto, afirma que não concorda com estes costumes, mas que os segue porque foi educada assim. “Eu tenho a noção de que só me posso vestir desta forma devido ao tipo de trabalho que tenho. Sendo eu mediadora intercultural da etnia cigana, faz sentido que eu me vista como uma mulher viúva cigana. Sei que se trabalhasse numa caixa de supermercado, por exemplo, seria eu que teria de me adaptar”, confessa Maria Catarina.
O ritual do luto na comunidade cigana tem-se tornado mais leve com o passar dos anos. Maria explica que, antigamente, as regras eram seguidas minuciosamente – se uma mulher ficasse viúva aos 20 anos, deveria usar o preto para o resto da sua vida.

Apesar de este processo lhe fazer sentido devido à idade que tem, não é a favor de que as jovens tenham de viver na “escuridão” para sempre. Maria garante que já se verifica uma maior abertura na comunidade no que toca a este assunto e que já é aceitável deixar as vestes pretas após quatro ou cinco anos da perda – “Hoje em dia, já são os próprios pais que apoiam a decisão das filhas e que não aceitam que elas levem o luto para a vida”. No entanto, afirma que estas jovens são sempre olhadas de lado pelos mais conservadores – “Eu própria, se decidisse que não queria viver assim para o resto da minha vida, sei que seria discriminada pela minha decisão e isso dói muito”. Defende esta mudança de pensamento na comunidade e olha para ela como um passo importante na integração dos ciganos na sociedade
Maria Catarina é da opinião de que não é qualquer pessoa que deixa o luto para trás e que, enquanto mulheres ciganas e educadas desta forma, “é preciso ter coragem para o fazer”, já que “o luto é algo muito importante na [sua] comunidade e, hoje em dia, já se aceitam coisas que eram impensáveis há 10 anos”.
Conta-nos, ainda, que é muito difícil para as jovens verem-se nesta posição e seguirem este ritual – “No luto do pai as minhas filhas usaram o preto durante dois anos e foi muito complicado para elas se adaptarem àquela roupa. É uma diferença brutal para umas jovens de 20 e poucos anos.”
Maria Catarina começou a trabalhar na escola onde atualmente ainda exerce funções um mês antes de o marido ser diagnosticado com cancro. Confessa que foi um período muito complicado da sua vida e que não conseguiu mostrar qualquer empenho no trabalho – “Em termos de trabalho esse ano foi praticamente nulo. No entanto, deram-me outra oportunidade e voltaram a contratar-me no ano seguinte”. Maria viu o seu marido morrer em maio de 2018. Naquele momento, a sua vida acabou e só o trabalho a ajudou a “levantar a cabeça”.
Acredita que viverá o tempo que lhe resta em luto por encará-lo como uma forma de sentir a presença do marido – “Eu podia não fazer isto. Mas sentia-me mal se não o fizesse. É uma forma de eu demonstrar a mim mesma como me sinto e de me manter ligada ao meu marido”.
Assim como a comunidade cigana, existem também outras comunidades que vivem o luto de uma forma diferente que as carateriza. Exemplo disso é a comunidade mexicana.
O Dia dos Mortos é uma das manifestações mais significativas do património mexicano, expressando-se de forma muito diversa nos diferentes estados e regiões do país. Esta comemoração foi declarada em 2008 pela UNESCO Património Cultural Imaterial da Humanidade. Quem nos conta é José Manuel Cuevas López, responsável pelos temas de promoção cultural e ligação com os meios de comunicação na Embaixada do México em Portugal.
O Dia dos Mortos celebra-se dia 1 e 2 de novembro em todos os locais onde o México tem representação diplomática e cada embaixada cria um programa para partilhar com os mexicanos e portugueses a celebração. Este ano, as celebrações da Embaixada do México em Portugal realizaram-se de 30 de outubro a 8 de novembro e todo o programa adaptou-se ao novo contexto mundial marcado pela pandemia.
A exposição de um altar dos mortos dedicado a todos os falecidos devido à COVID-19 e um conjunto de fotografias que retratam o Dia dos Mortos no México, no Palácio de Monserrate, em Sintra, foi um dos vários eventos que integraram o programa da Embaixada.
No início das escadas que dão acesso ao auditório onde o Altar dos Mortos se encontra, há uma caveira de cores garridas que nos familiariza com o cenário que vamos encontrar.



O Altar destaca-se pela sua cor, organização e quantidade e diversidade de elementos que dele fazem parte. Normalmente, é dedicado a alguém em particular. José exemplifica este aspeto mencionando que o Altar do ano passado foi dedicado a todos os escritores mexicanos que morreram em 2019. O conselheiro cultural esclarece que o Altar “é uma construção material onde se representam as distintas etapas pelas quais o morto passa até chegar ao céu, ao descanso eterno”. Nele, colocam-se elementos de que o morto gostava e que o caraterizavam. Uma parte muito importante é a comida: põem-se pratos tradicionais e molho mexicano, por exemplo.

Esta tradição iniciou-se nas antigas civilizações mexicanas, ainda antes de os espanhóis, que já realizavam rituais em homenagem aos mortos, chegarem a territórios mexicanos. De 30 de outubro a 2 de novembro, as pessoas vão ao cemitério visitar os seus mortos. Os cemitérios ficam abertos toda a noite e iluminados pela luz das velas. As famílias levam as suas refeições, que partilham com o morto. Normalmente há, também, uma igreja sempre aberta, assim como grupos de música que tocam toda a noite.
“O México tem uma visão muito particular da morte”, conta-nos o conselheiro cultural. Acrescenta que a morte é encarada como uma parte da vida – que é vista como um processo circular. Na perspetiva mexicana, os mortos nunca se separam de quem permanece vivo, uma vez que é nos seus corações e mente que os que partiram ficam.
Para concluir, cita um poema de Octavio Paz – poeta, ensaísta, tradutor e diplomata mexicano, que recebeu o Prémio Nobel de Literatura de 1990: “el mexicano está familiarizado con la muerte, bromea sobre ella, la acaricia, duerme con ella, la celebra”.
Reflexão
Ana Francisca Jones
Este foi o grande desafio do meu percurso académico, que ainda só vai a meio. A morte sempre foi aquele assunto que gostava de ignorar e, como nunca vivi um processo de luto, este tema também nunca teve espaço na minha massa cinzenta. Mas este trabalho obrigou-me a fazê-lo e não é que me surpreendi?
Este trabalho roubou a perspetiva pesada e escura que estes temas carregavam no meu ponto de vista. Todos os assuntos são importantes e talvez, agora, tenha percebido, finalmente, que todos eles merecem espaço e atenção nas vossas vidas. A verdade é que hoje são aquelas pessoas a viver aquela situação e amanhã poderemos ser nós.
A leveza do assunto foi o que quisemos transportar para esta grande reportagem. No entanto, podemos confessar que este não foi o propósito inicial. À medida que fomos explorando o tema e conhecendo os nossos testemunhos, percebemos que este poderia ser o objetivo que nos faltava para guiar este trabalho de meses. Ao início o foco não estava aqui – esperávamos, apenas, encontrar tristeza no rosto daquelas pessoas; incertezas quanto à vida e à sua justiça; angústia e agonia nos seus olhares. Ainda assim, não pudemos esquecer o sofrimento que o luto carrega e que é importante ser reconhecido, afinal “só podemos falar de luto se falarmos de amor”.
Não sei se passarei a falar deste tema com a naturalidade que ele poderá ter. O medo ainda existe: apenas o medo de perder aqueles que amo. A morte faz parte de um ciclo que é a vida. Será que este momento de reflexão transporta consigo a morte deste trabalho? Ele nasceu, sem esperarmos; foi contruído e desenvolvido com a maior das dedicações; e, agora, está terminado – já não há o próximo desafio, a próxima história para ouvir, a próxima palavra para escolher. Se este for o seu fim, de uma coisa eu tenho a certeza: a sua morte não poderia ser mais bonita.
Joana Margarida Fialho
Nunca refleti sobre a morte até surgir este trabalho. Felizmente ainda não tive uma experiência próxima que me pudesse fazer questionar algumas coisas como: Será que há vida depois da morte? O que acontece quando morremos? Será que vamos voltar a viver de alguma forma? Como é passar por um processo de luto?
Quando decidimos que o tema que iriamos desenvolver era “O luto” houve oportunidade de participarmos num “Death Cafe”, onde se falava precisamente sobre a morte. Foi uma conversa muito interessante, onde se falou deste tema, que é um tabu na sociedade, muito abertamente, partilhando-se experiências e crenças.
Ao longo das entrevistas percebi que a morte não tinha de ter um tom tão negro quanto eu o pintava. A morte faz parte de um ciclo da vida. Alguns entrevistados tinham até uma visão “bonita” da mesma. Gostei particularmente da visão mexicana, onde até o luto é visto como uma comemoração, na qual a família se junta para celebrar quem já não está fisicamente entre eles.
Por outro lado, a partilha da história de um luto de uma mãe põe-nos em perspetiva. Penso que os jovens olham para a morte como algo distante, mas a verdade é que não sabemos o dia de amanhã. Devemos, por isso, continuar a colecionar memórias e viver momentos que nos preencham.
Margarida Rodrigues
A morte sempre foi um assunto bem presente nos meus pensamentos. Lembro-me de ter os meus 5 anos e de chorar horrores quando vi a minha planta favorita murchar. Na altura, não percebia por que razão “as coisas morriam.” Por volta dos 12 anos comecei a ter alguns ataques de ansiedade quando pensava que, um dia, ia morrer. A morte sempre me assustou e, quando falava sobre isto com outras pessoas, ninguém percebia o que me ia na alma. Diziam-me: “mas porque pensas tu nisso com essa idade? Ainda falta tanto tempo para morreres”. Questionava-me como sabiam eles o tempo que me faltava para morrer. Como é que sabiam que o meu “dia final” era daqui a muitos anos e não logo no dia seguinte?
Antes de fazer os meus 17 anos, a minha avó paterna faleceu, uma pessoa que nunca esteve presente no meu dia-a-dia. Quando soube da notícia da sua morte, lidei bem com o assunto. Dez minutos depois chorei como nunca tinha chorado. Não porque ela tinha morrido, mas porque a morte estava ali, na minha vida. Foi a mim que me tocou. A partir daí percebi que ela chegava a qualquer altura, sem avisar, e que todos tínhamos de estar preparados.
Este trabalho veio confirmar tudo aquilo em que penso e acredito desde nova: a vida é um sopro. Um dia temos quem nós mais amamos a nosso lado e no outro dia já não estão lá. No entanto, tive contacto com perspetivas diferentes daquela a que estava habituada e apercebi-me de que há, de facto, pessoas que veem este processo como algo natural e até bonito. Isso abriu-me os horizontes e trouxe-me, de certa forma, alguma leveza.
Foi dos projetos que mais gostei de realizar até hoje. Ensinou-me muito a nível emocional, mas também a nível académico. Aprendi a trabalhar melhor em grupo e a contar mais com a ajuda do outro quando é preciso. Penso que daqui saiu uma coisa muito bonita e da qual me orgulho muito.