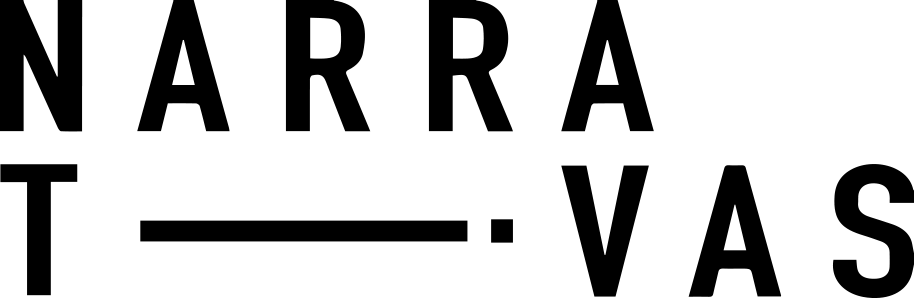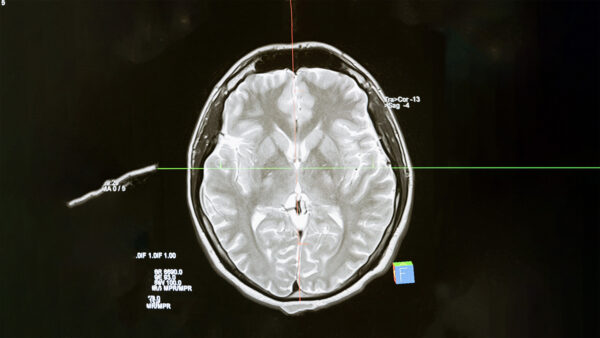A Morte
O Medo da Morte
Atualmente, a morte é estudada ao pormenor. A tanatologia permite ao ser humano perceber melhor o processo do fim da vida na Terra. Apesar disso, o medo de morrer é inevitável e está bastante presente no quotidiano social.
Leandro Monteiro, Miguel Gato, Miguel Rodrigues, Sílvio Balbúrdia Ilustração, Rodrigo Martins

As várias culturas implementaram diferentes formas de lidar com a morte. As mitologias e religiões de que falamos são a prova disso. Povos como os egípcios, gregos e romanos, assim como religiões como os cristãos e muçulmanos guiam-se por doutrinas diferentes, acreditando que estas lhes podem garantir a vida espiritual. Por outro lado, os ateus descartam o pensamento ligado à eternidade.
Contamos com a participação de vários especialistas, que nos ajudaram a perceber se o medo é igual em quem crê e em quem não possui nenhuma crença. Temos também o apoio visual de ilustrações digitais alusivas ao tema, elaboradas por Rodrigo Martins.
A misticidade egípcia da morte: a passagem para Duat (3100 a.C)
LUÍS MANUEL DE ARAÚJO nasceu em Lisboa, em 1949. É doutorado em Letras (História e Cultura Pré-Clássica) pela Universidade de Lisboa e licenciado em História pela Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, com estágio de pós-graduação em Egiptologia na Faculdade de Arqueologia da Universidade do Cairo (1984-1985). Foi professor da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, estando actualmente jubilado, no Departamento de História (Instituto Oriental), lecionando cadeiras da área de História e Cultura Pré-Clássica, com orientação de teses de mestrado e doutoramento na área de História Antiga (Egiptologia).
Em todas as culturas e civilizações, ao longo do tempo, o medo da morte sempre esteve presente. O antigo Egipto não é excepção, como explica o Prof. Doutor Luís Manuel de Araújo.
“No antigo Egito, encontrou-se uma solução para vencer o medo da morte, criando a ideia de que esta é apenas uma passagem para a outra vida”, afirma o professor. Foi com a fé, com a crença e com a força da religião que os egípcios faraónicos venceram o medo da morte. Para os antigos egípcios, era imprescindível morrer. A morte era vista como esperança, como antecâmara de outra vida, muito melhor, mais rica e abundante, num mundo a que chamaram Duat (1). No antigo Egito, Duat é definido como o submundo.

Os egípcios acreditavam que só iam para o Duat aqueles que, em vida, tivessem cumprido a Maat (2), ou seja, que tivessem sido bons, justos, tolerantes e respeitadores. Maat ou Ma’at é também como se chama a Deusa da justiça e do equilíbrio. É representada por uma jovem mulher negra que exibe uma pena em sua cabeça. Maat é filha de Rá, o Deus Sol, e esposa de Toth, o Deus da escrita e da sabedoria. Maat é a personificação da verdade e da justiça e os egípcios acreditavam que esta divindade era responsável por trazer à realidade seres e coisas, visto que, para os egípcios, qualquer objeto precisava ter uma existência real, ter uma forma visível, requerendo, então, o toque da deusa. O símbolo mais famoso da Deusa Maat é a pena de avestruz que esta usa em sua cabeça. A pena da avestruz, ao ser usada como a “Pena de Maat”, representa a verdade, a ordem e a justiça. Maat pode ser representada em hieróglifos apenas pela própria pena.
No antigo Egipto existia a ideia do julgamento final, que permitia saber quem estava apto para ir para o Duat. Para que tal acontecesse, o coração do defunto era pesado, de modo a verificar se estava livre de pecados. A pesagem do coração acontecia na sala das Duas Maat (conhecida também como sala das Duas Verdades ou sala das Duas Justiças), onde existia uma grande balança colocada num pedestal.
No ato do julgamento, a deusa Maat colocava o coração do falecido num dos pratos da balança e a pena de avestruz (a representação do coração da Deusa Maat) no outro prato – o objetivo era pesar o coração. Se o coração do falecido fosse mais leve do que a pena de avestruz, este usufruiria de uma vida após a morte, ou seja, vida eterna. Porém, se coração do defunto fosse mais pesado do que a pena de avestruz, o falecido teria o seu coração devorado por Ammit – criatura que é parte crocodilo, leão e hipopótamo (os três maiores animais “devoradores de homens” conhecidos pelos antigos egípcios) – e a sua alma estaria condenada a vaguear sem descanso por toda a eternidade, nunca encontrando paz. Ammit é conhecida como a “Devoradora dos Mortos”, “Devoradora de Corações”, “A Devoradora” e “Grande Morte”, por ser uma criatura de punição, uma divindade que devora os corações daqueles que se revelam indignos, de acordo com as escalas de justiça de Maat. Uma vez devorado o coração do defunto, não existiria a possibilidade de ressurreição.
Os egípcios entendiam que o coração era a fonte da inteligência, criador de todos sentimentos e atos, também depósito da memória. Era considerado a “chave” para a vida após a morte.
Embora tivessem encontrado uma solução para lidar com o medo da morte, os egípcios temiam um desaparecimento que ameaçasse a integridade do corpo físico. Estes acreditavam que o corpo continha um elemento metafísico que viveria eternamente no Duat, ao qual chamaram Ka (3) (uma espécie de alma). Para assegurar a integridade do corpo físico dos defuntos, foram desenvolvidas técnicas, que consistiam na retirada das vísceras, de modo a deixar o corpo rijo e seco e prepará-lo para a embalsamação e mumificação. Para os egípcios o corpo era extremamente necessário. Sem ele, não haveria Ka. Sem este elemento, não haveria vida eterna.
A viagem até às ilhas utópicas (12 a 9 aC – 600 dC)
NUNO RODRIGUES SIMÕES. Doutor em Letras, na especialidade de História da Antiguidade Clássica (2003). Mestre em História e Cultura Pré-Clássica (1996). Licenciado em História (1991), pela Universidade de Lisboa. Professor associado da Universidade de Lisboa. Investigador do Centro de Estudos Clássicos e Humanísticos da Universidade de Coimbra e dos Centros de História e de Estudos Clássicos da Universidade de Lisboa.
Os Impérios Grego e Romano são a base de grande parte dos nossos hábitos do quotidiano. A herança deixada por estas culturas serviu de exemplo para sociedades posteriores, algo que permitiu o seu desenvolvimento. Hábitos gastronómicos, higiénicos, desportivos e culturais foram retirados, assim como os hábitos relacionados com a morte, a qual é transversal a todas as civilizações que fazem parte da nossa História. É impossível haver uma distância para com a civilização greco-romana.
Nuno Simões Rodrigues ajudou-nos a aprofundar o estudo feito sobre o medo da morte. Através de várias epopeias greco-romanas, o professor explicou, detalhadamente, aquilo que é pretendido. Quando questionado sobre a existência do medo da morte no mundo greco-romano, afirmou que “sempre existiu”. Tal fator pode ser considerado normal, tendo em conta o facto de que o Homem “pretende sempre prolongar a sua vida, por mais que ela aparente ser curta”.

Os tempos gregos e romanos distinguem-se das restantes épocas num sentido: “faseiam a forma de preservação do corpo”. Numa primeira fase, há a tentativa de preservá-lo, com vista a ter uma vida feliz após a morte, “enterrando os objetos do quotidiano junto com o corpo”. Posteriormente, numa segunda fase, tanto gregos, como romanos, passam a desfazer-se dos corpos, passando “a preservar a alma como simbologia da vida eterna”. Essa existência após o falecimento, no caso dos gregos, existia na chamada Ilha dos Campos Elísios (4), e era vista como “um objetivo”. Há o temor de falhar e não alcançar essa ilha utópica. No caso dos romanos, não determinam um sítio em especial para habitar após a morte. Porém, “definem ilhas utópicas como destino depois do seu falecimento”. Não existe a clara noção de céu, tal como existe atualmente no Cristianismo, mas sim uma noção de ilhas utópicas, para onde os mortos que passam pelo purgatório vão.
Para alcançar as ilhas utópicas é, como disse, necessário passar pelo purgatório. Porém, o mesmo nem sempre é visível no mundo greco-romano. Aliás, do lado romano, não existe qualquer resquício da existência de um purgatório. Mas, no lado grego, existem expressões culturais, devido à influência egípcia, que apresentam a comparência de um purgatório (5), sendo que o mesmo “não é visível em todas as épocas, nem em todas as expressões religiosas”. Para alcançar as ilhas utópicas é também necessário o perdão de alguns crimes. Porém, nem todos são perdoados e nem todos os mortos obtêm a passagem para as ilhas utópicas.
Tanto o mundo grego como o romano ficam pautados pela imensa diversidade para atingir a paz/vida eterna. “Não existe apenas uma forma de atingir a imortalidade”, mas sim várias maneiras de o executar.
A dimensão medieval da morte (séc. V – séc. XV)
ANA MARIA RODRIGUES é licenciada e Mestre em História Medieval pela Universidade de Paris IV-Sorbonne. Doutorou-se e fez a Agregação na Universidade do Minho, onde lecionou durante duas décadas. É Professora Associada com Agregação da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa. Integra o respetivo Centro de História, sendo também investigadora da Universidade Católica Portuguesa e da Universidade de Barcelona.
O contexto histórico em que a Idade Média está inserida faz com que a morte tome proporções marcantes. Ana Maria Rodrigues justifica esse fator: “não só por ter sido um tempo em que as guerras eram algo de muito frequente, mas também pela existência de epidemias que dizimavam populações”. Aponta, também,“a caça de animais selvagens, assim como os duelos nos torneios medievais”, no caso dos homens, e “a gravidez e o parto”, no caso das mulheres, como “momentos de risco”, os quais contaram também com muitas mortes.
Nesta época, as guerras eram, de facto, muito comuns. Não regressar à pátria era, igualmente, uma realidade muito presente. Apesar disso, os homens partiam para os conflitos com ânimo e empenho. E, como nos elucida a professora Ana Rodrigues, a morte em guerra não garantia a ida para o chamado paraíso. “Dependia da guerra. Se fosse uma guerra entre cristãos gerava um problema. Uma guerra civil era difícil de saber quem tinha razão. Deus estava do lado de quem? Essas guerras poderiam dar um grande prejuízo à sua alma”. No caso de guerras contra os infiéis, “em princípio, assegurava, pelo menos, uma benevolência”. E no caso de ser o Papa a pedir o auxílio das cruzadas, “aí os soldados e os chefes já tinham essas indulgências garantidas que lhes perdoavam os pecados”.
Mas os cristãos tinham ou não medo de morrer? “Mais do que a morte, temiam a morte não preparada”. Ana Rodrigues esclarece que, desde os primórdios do Cristianismo, “toda a pregação é feita no sentido de os fiéis estarem sempre preparados para a morte, de maneira a poderem gozar, durante a eternidade, a contemplação beatífica (6) de Deus. Esse é o prémio para aqueles que tiveram uma vida dentro dos cânones do Cristianismo”. É por esta razão que, quando partiam para guerras, os homens, e quando estavam prestes a dar à luz, as mulheres, tinham “o hábito de escrever testamentos”.
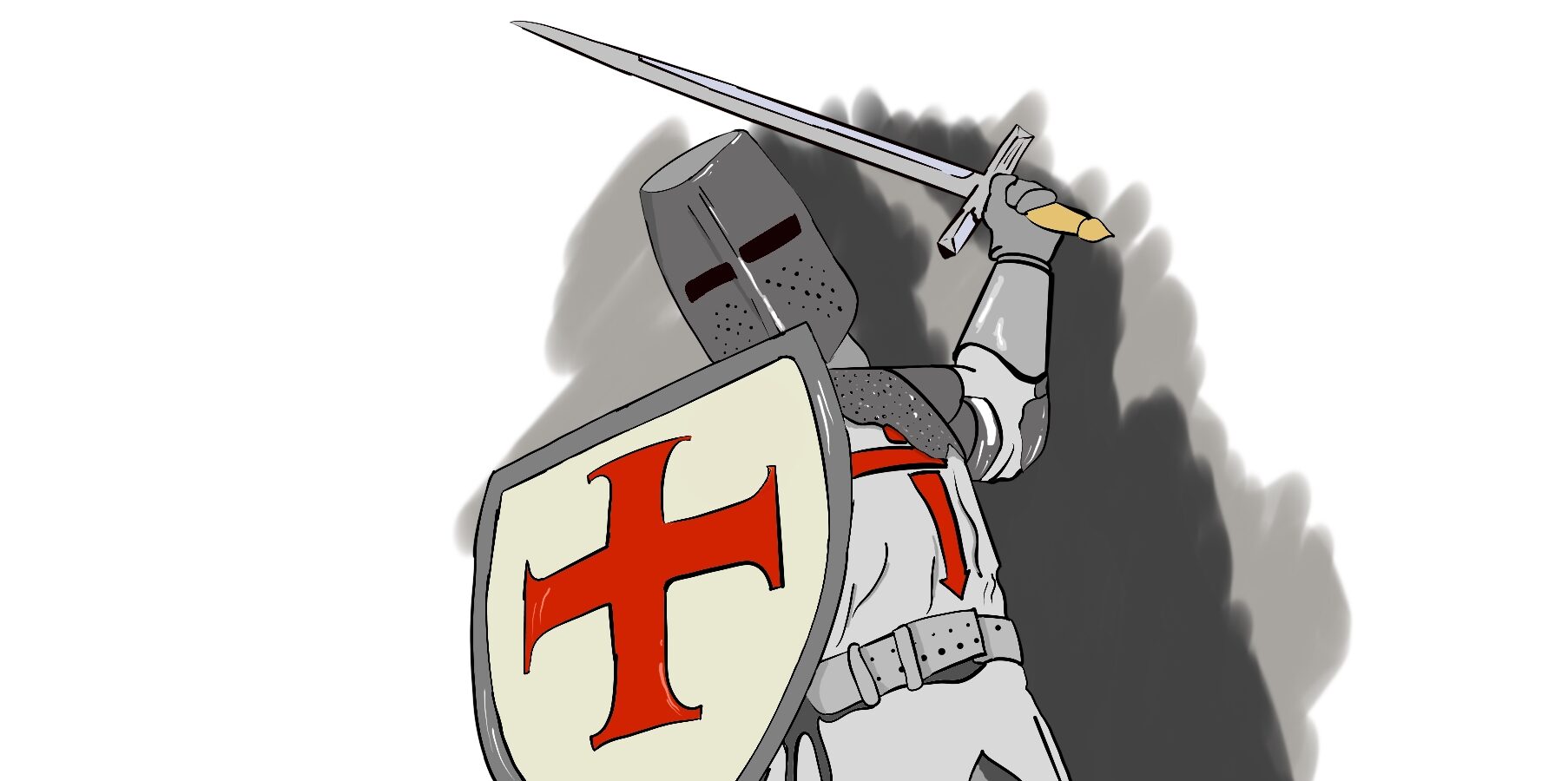
Nos primeiros tempos do Cristianismo, acreditava-se na existência de dois hemisférios no além. O paraíso e o inferno. Caso “o cristão tivesse levado uma vida santa, estaria destinado ao Paraíso”, caso “tivesse cometido pecados, levado uma vida que não fosse ao encontro dos ensinamentos, estaria destinado ao Inferno”. A professora explica que, o facto de os destinos do além serem tão opostos, “não respondiam aos anseios dos fiéis”. E não respondiam porque estes “tinham perfeita noção das suas faltas, algo que os fazia pensar que estariam destinados ao inferno, um lugar de sofrimento eterno, sem que houvesse a possibilidade de lhe pôr um fim”.
Entre o momento da morte e a entrada no paraíso ou no inferno, “era ainda necessário esperar pelo fim do mundo, o dia do juízo final, para que as almas fossem separadas”, conta-nos Ana Rodrigues. E, com o passar do tempo, foi-se desenvolvendo a ideia de que, nesse momento de espera, “todos eram chamados perante Deus para serem julgados”, de modo a decidir se “ainda seria possível resgatar as almas daqueles que, embora tivessem cometido pecados, se tivessem arrependido no momento da morte. Esse lugar intermédio era apelidado de purgatório.
Atualmente, a Igreja Católica afirmou que o inferno, o paraíso e o purgatório não são lugares reais. “Há, hoje, muito menos cristãos do que na época medieval”, declara a professora, frisando a maior descrença existente. Mas aponta para as diversas alternativas que se conhecem, algo que não acontecia na altura. Será que, o questionamento em relação à morte é maior pelo maior número de alternativas de pensamento? A professora responde que sim, indicando o facto de hoje ser possível ser ateu, alguém que não crê, “algo que naquele tempo era inimaginável”. Quanto ao porquê de ser inimaginável, Ana Maria Rodrigues explica que “o homem da Idade Média não tinha mecanismos mentais para poder ser ateu”. Fundamenta com o facto de ser “uma liberdade de pensamento que resulta da separação da Igreja com o Estado e da existência da ciência como a conhecemos, atualmente. Resulta da revolução científica e da modernidade.”
“A contradição de uns, a tradição de outros” (Modernidade – séc. XV)
PAULO MENDES PINTO é diretor da Licenciatura e do Mestrado em Ciência das Religiões na Universidade Lusófona, onde também dirige o Instituto Al-Muhaidib de Estudos Islâmicos. Mestre em História e Cultura Pré-Clássica pela Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, desenvolve investigação sobre História das Religiões Antigas (mitologia e literaturas comparadas), Historiografia e Teoria da História e Diálogo entre as Religiões, Convívio e Cidadania. Dedica parte dos seus trabalhos a questões sobre a relação entre o Estado e as religiões. Dirige as entrevistas Conversas em Religião, onde, regularmente, entrevistam importantes personalidades religiosas. Foi responsável por diversos projetos na área da Ciência das Religiões. É membro do Conselho Consultivo da Associação de Professores de História. É investigador da Cátedra de Estudos Sefarditas Alberto Benveniste da Universidade de Lisboa, onde é responsável pela revista científica Cadernos de Estudos. Colaborador regular do jornal Público, é autor ou coordenador de cerca de três dezenas de livros no campo de mais de uma centena de artigos e revistas especializadas. Recebeu a Medalha de Ouro de Mérito Académico da Universidade Lusófona em 2013.
Cristianismo e Islamismo são duas religiões em que a morte tem o mesmo significado. Porém, os crentes das duas comunidades têm comportamentos diferentes aquando do momento da hora de partida. Paulo Mendes Pinto afirma que “a questão da morte é um dos grandes problemas ou das grandes equações das religiões”. O professor considera que existe uma contradição na maneira como os cristãos olham para o falecimento de alguém. Existe a posição teológica (7): a morte é a porta de entrada para a eternidade. Ao longo dos tempos, os crentes foram praticando comportamentos que garantem a vida eterna: “foram arranjados mecanismos como as indulgências (8), rezar missas, peregrinações”, de modo a entrar no céu ou paraíso. Porém, o fim da vida causa um terrível medo, e este não desaparece com a promessa de uma passagem para a vida eterna. Porque é que se chora quando alguém morre? Porque é que existe o medo de morrer? A resposta a essa pergunta é muito simples: “A morte é uma vertigem”, como cita o professor.
Ao longo dos anos, o fenómeno da laicização (9) relativamente às religiões foi sendo tomada como uma realidade, no contexto ocidental. A crença religiosa foi-se erodindo, nas últimas décadas. “A maioria das pessoas não tem qualquer prática religiosa. Atualmente, a maioria das crianças não é batizada, os casamentos não são pela igreja e os padres não estão presentes nos funerais.” A descrença de que a fé cristã sofreu é facilmente analisada pela mudança de práticas de vida dos seus crentes. A morte é desprovida de uma dimensão religiosa ligada às instituições. “Desapareceram hábitos como os mortos serem velados nos seus lares. A morte foi sendo afastada para o hospital, para a casa mortuária e para o crematório. A população, no seu geral, passou a ver a morte como algo desvinculado dos dogmas da Igreja.” O auge do medo da morte deu-se entre o século XII e o XV. A questão das indulgências dividiu os cristãos, algo que levou à criação da religião protestante, que contestava a forma como a vida eterna era garantida por padres e membros da Igreja.
O caso da religião islâmica é bem diferente. A comunidade muçulmana não sofreu qualquer tipo de mudança nos costumes da morte, pelo que mantém todos os preceitos tradicionais: “Existe uma prática religiosa muito mais presente nos momentos da vida, incluindo a morte: limpeza do corpo e enterramento ritual, onde o corpo vai despojado para a terra, à exceção de mortes violentas ou questões de saúde pública.”
Para Paulo Mendes Pinto, cristãos e muçulmanos têm a mesma predisposição para cometer atos violentos ou em prol de Deus. “Nas religiões monoteístas, sempre existiu a popularização do martírio, ou seja, de quem oferece a vida em prol de Deus. No cristianismo, desde a época romana até aos anos 30. No islamismo, infelizmente, até os dias de hoje.” A prática do mártir (10) foi sempre algo bastante presente naqueles que acreditam que serão recompensados caso levem a vida religiosa ao extremo: “No Islão, existe a questão das 70 virgens (11). No Cristianismo da Idade Média, entrava diretamente para o céu, sem passar pelo juízo final, a pessoa que fosse considerada mártir”.
O juízo final, uma espécie de tribunal que decide se a alma da pessoa vai para o céu ou inferno, está presente em ambas as crenças. A diferença está nos atos que o crente cristão pode fazer durante a vida para limpar os seus males: “No cristianismo, existe o confessionário, uma espécie de momento em que os pecados são limpos. No islão, todos os pecados cometidos na vida são levados ao juízo final.”
“Quer aquilo que é lembrado, quer a pessoa que se lembra, tudo desaparece” (Época Moderna)
RICARDO ARAÚJO PEREIRA (Lisboa, 1974) é licenciado em Comunicação Social pela Universidade Católica, e começou a sua carreira como jornalista no Jornal de Letras. É guionista desde 1998. Em 2003, com Miguel Góis, Zé Diogo Quintela e Tiago Dores, formou o Gato Fedorento. Escreve semanalmente na Visão (Portugal) e na Folha de S. Paulo (Brasil) e é um dos elementos do programa da TSF/SIC Governo Sombra. É autor e apresentador de Isto É Gozar Com Quem Trabalha (SIC). Com a Tinta-da-china, publicou seis livros de crónicas — Boca do Inferno (2007), Novas Crónicas da Boca do Inferno (Grande Prémio de Crónica APE 2009), A Chama Imensa (2010), Novíssimas Crónicas da Boca do Inferno (2013), Reaccionário com Dois Cês (2017) e Estar Vivo Aleija (2018) —, além dos volumes de Mixórdia de Temáticas, que reúnem os guiões do programa radiofónico, e de um ensaio: A Doença, o Sofrimento e a Morte Entram num Bar (2016, também publicado no Brasil). No Brasil está ainda publicada a coletânea de crónicas Se não entenderes eu conto de novo, pá (Tinta-da-china, 2012). Coordena a coleção de Literatura de Humor da Tinta-da-china, que publicou livros de Charles Dickens, Denis Diderot, Jaroslav Hasek, Ivan Gontcharov, Robert Benchley, S.J. Perelman, George Grossmith, José Sesinando e, mais recentemente, Mark Twain. É o sócio n.º12 049 do Sport Lisboa e Benfica.
Falamos de Cristianismo, Islamismo e de outras doutrinas antigas. Mas a verdade é que o ateísmo é um fenómeno que parece estar em crescimento na população ocidental.
Ricardo Araújo Pereira, assumido ateu, afirmou, numa entrevista à Agência Ecclesia, que teve o seu primeiro contacto com a morte aquando do falecimento da sua avó: “A minha avó via a morte como uma espécie de exame”, de modo a ver se chumbava ou passava para o céu. Afirmou, também, que via na sua avó a imagem do luto que esta vivia do seu marido. “Estar de preto e de rosto carregado foi algo que marcou a minha infância.”
O cheiro da casa onde a sua avó habitava evoca-lhe memórias e aproxima-o dela, tornando-se doloroso. Ricardo não tem dúvidas de que não existe vida para além da morte. “Quando morremos, vamos para o mesmo sítio de onde estávamos antes de nascer: o nada. Um sono sem sonhos, uma não existência.” O humorista chega a afirmar que não só não acredita na existência de Deus, como não gostava que este existisse, lembrando-o de uma espécie de “Coreia do Norte celestial”, pelo controlo que os crentes acreditam que Ele tem na sua vida.

Quando perguntado sobre o papel do humor no tema da morte, mais propriamente no momento do luto, Ricardo diz que fazer rir é um ato de generosidade que temos uns com os outros. “O humor faz com que a vida seja levada de outra maneira, com outra disposição. Como a nossa existência tem um fim, o ato de rir é uma espécie de anestesia.” Apesar de conseguir perceber as pessoas que interpretam mal o rir após uma morte, Ricardo apenas põe um limite ao humor. Apenas em uma hipótese lhe sumia a vontade de rir: a perda de um filho. “Um pai que perde um filho é uma morte.” Apesar de considerar que “o riso pode ser considerado uma forma de retomar a vida”, duvida que fosse capaz de o fazer.
Questionado sobre uma eventual solidão, o humorista diz que é uma possibilidade. “Para os não crentes, o nascimento e a morte são uma questão indivdual”. Com o toque do humor sempre presente, Ricardo, de forma irônica, afirmou que, por vezes, procura consolo na Bíblia, onde se encontram “explicações sobre quem somos”. “Comer, beber e alegrar-se é um bom conselho”.
A religião cristã defende que o mal existe no mundo porque Deus criou a Terra com homens dotados do livre arbítrio. Este, para Ricardo Araújo Pereira, é o principal ponto que distingue os crentes e os não crentes: a ideia de que o mal apenas acontece por defeito do Homem. “Para mim, é difícil conceber a ideia de um Deus e depois saber da existência da ala pediátrica do IPO ou de uma catástrofe natural”.
Frisa que não acredita em Cristo, mas sim na bondade dos cristãos, algo que já viu acontecer. Reitera a visão ateísta da vida e da morte, acabando a entrevista com a seguinte frase: “Quer aquilo que é lembrado, quer a pessoa que se lembra, tudo desaparece.”
Desde o cristianismo ao islamismo, da cultura grega à egípcia, e até mesmo no seio de pessoas que não apoiam as suas convicções em religiões, o medo da morte está presente e é inevitável. A forma como se lida com a morte e com o medo que antecede este acontecimento sempre diferiu entre as religiões e culturas, tendo evoluído ao longo do tempo. Isto pode ser explicado por intermédio da liberdade de pensamento e de escolha, de que os indivíduos usufruem. Os vários povos encontraram nas religiões o conforto necessário para lidar com o fim da vida e com o medo que advém do mesmo, prática que se perpetua até aos dias atuais.
Aquilo que aproxima as várias culturas e religiões é a concepção da morte como o fim da vida material. Ou seja, a impossibilidade de a pessoa continuar a ter um papel ativo na sociedade. Por outro lado, os ateus não só veem o falecimento como o fim da existência na Terra, como também refutam a ideia da morte como o início da vida espiritual.
Glossário
(1) Duat: submundo da mitologia egípcia, residência do deus Osíris, de outros deuses e outros seres sobrenaturais.
(2) Maat: deusa da verdade, da justiça, da retidão e da ordem na mitologia egípcia.
(3) Ka: desígnio da alma no Antigo Egipto.
(4) Ilha dos Campos Elísios: ilha utópica onde os homens virtuosos repousavam dignamente após a morte rodeados por paisagens verdes e floridas dançando, divertindo-se dia e noite.
(5) Purgatório: lugar onde se purificam as almas que, não merecendo o Inferno, não podem, contudo, entrar no Céu sem espiarem a culpa.
(6) Beatífica: que torna alguém bem-aventurado.
(7) Teológica: relativo à ciência da religião ou das coisas divinas.
(8) Indulgências: remissão total ou parcial dos pecados que foram perdoados, concedida pela Igreja Católica.
(9) Laicização: ato de não pertencer ao raio de ação da Igreja.
(10) Mártir: pessoa que sofre tormentos devido a uma crença.
(11) “70 Virgens”: Chamadas de Húris, de acordo com a fé islâmica, são virgens prometidas aos homens islâmicos bem-aventurados, como gratidão pelas boas ações que praticaram na Terra.