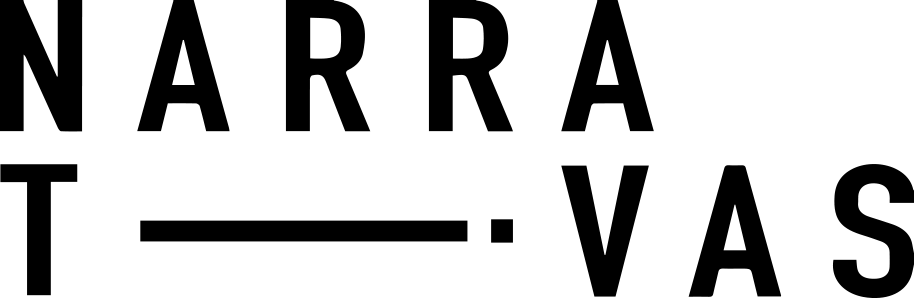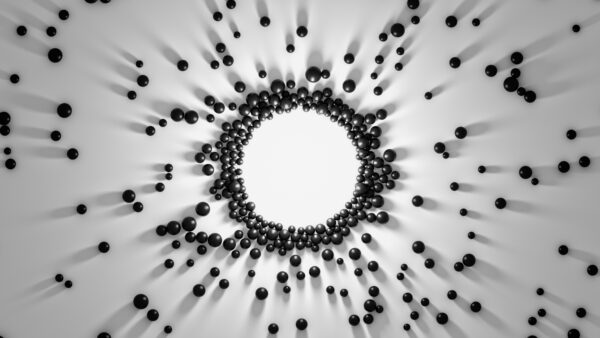Pressão e Tabu
Nem sempre uma casa portuguesa, com certeza: estórias do imigrante em Portugal
Inicialmente, o assunto parecia de simples entendimento - todos os processos de adaptação de migrantes são difíceis. A pressão existe desde o primeiro momento em que pisam o solo do país que os vai acolher como seus. Porém, as expectativas iniciais que construímos das histórias que aqui contamos não se mostraram compatíveis com a realidade: as experiências de migração são muito diversas.
Amanda Silva, João Valadares, Sofia Simão

O caso de Lia Torres, que se identifica total e unicamente como portuguesa, apesar de ambos os pais serem imigrantes, e de Isabella Teixeira, que abraça a sua identidade enquanto portuguesa e brasileira, desafiaram-nos a repensar narrativas pré-concebidas que fomos ouvindo e reproduzindo durante a vida. Víamos estes movimentos migratórios e o que significam para os seus descendentes de uma forma parcial e simplista, e, consequentemente, incorreta.
Neste sentido, as histórias que damos a conhecer são histórias singulares de imigrantes. Experiências únicas de adaptação, pertença e multiculturalidade em Portugal, retratando, no processo, a pressão sobre estes imigrantes para a definição de uma pertença cultural e nacional.
Um pé em África e outro na Europa
Foi num cantinho em Porto Salvo, na freguesia de Oeiras, que Lia, filha mais nova da família Torres, viveu a sua infância. A jovem de 27 anos, estudante de mestrado em Publicidade e Marketing na Universidade Europeia, é imigrante de segunda geração – portanto, filha de imigrantes.

Os pais de Lia conheceram-se em Luanda, onde ambos trabalhavam como profissionais de saúde. Ainda em Angola, tiveram dois filhos, Márcio e Alexandra, e, três anos depois, tomaram a decisão de emigrar para Portugal, trazendo consigo a terceira filha, Edna, ainda por nascer. Fixaram-se em Sintra, região que regista o maior número de residentes angolanos em território nacional, onde os filhos cresceram e estudaram. Quando Lia entrou na escola, todavia, a família já residia em Oeiras, onde o demográfico angolano não se mostra tão expressivo. Enquanto completava o ensino básico, os seus irmãos mais velhos avançavam para a vida adulta, optando por emigrar para Angola. “Aqui, em termos de estabilidade, qualidade, preço e emprego, não dava. Para começar, não dava. Por mais que tenham tido algumas portas abertas, a quantidade de trabalho que eles tinham versus o ordenado que recebiam não compensava. Então foram para [Angola] ganhar experiência e ver outras realidades”, recorda Lia.
Dentro da família de Lia, diferentes identidades e sentimentos de pertença efervescem e contrastam: a mãe é filha de um português e de uma são-tomense; o pai é angolano; os 3 irmãos mais velhos consideram-se portugueses e angolanos. No entanto, Lia e a sua outra irmã, Edna, ambas nascidas em Portugal, vêem-se unicamente como portuguesas, apesar de terem a nacionalidade angolana. Quando questionada sobre as razões que a levaram a não sentir, ao contrário dos seus irmãos, um sentimento de pertença relativamente a Angola, Lia admite que a falta de exposição à cultura do país a poderá ter tornado indiferente a esse lado da história da sua família. “Sempre estudei em escolas públicas, sempre tive amigos de várias nacionalidades, mas nunca tive amigos angolanos.” Especula também que, “talvez pelo facto de terem nascido lá, talvez por terem estudado em Sintra, no Rio de Mouro”, os seus irmãos acolhem a dualidade identitária de serem simultaneamente portugueses e angolanos.

Apesar da importância do país na vida do seu núcleo familiar, Lia tinha já 18 anos quando visitou Angola pela primeira vez. Nessa altura, os seus pais e irmãos residiam na capital angolana, e Lia era a única a viver em Portugal. Reflete sobre a viagem e o seu caráter transformador: “Quando eu fui pela primeira vez, ia com a expetativa de que fosse como Portugal. Ao sair do aeroporto, vi uma realidade que me chocou, porque vês os muito pobres e os muito ricos. Vês os ricos dentro de jipes com vidros fumados, vês casas de luxo, e vês muita gente na rua a vender, as zungueiras, com bacias na cabeça com fruta e peixe”. Para Lia, as várias viagens que fez, desde então, a Angola reforçaram a sua identidade portuguesa. “A única coisa que sinto de angolana em mim é o meu pai, os meus sobrinhos, e o facto de agora conseguir viajar até lá, porque, se eles não tivessem ido para Luanda, eu nunca sairia de Portugal com o objetivo de visitar a terra do meu pai.”
A figura paterna tem um papel muito influente no percurso de Lia e dos seus irmãos. Lia refere-se ao pai como um homem “simples e reservado”, que transmitiu aos filhos a importância do trabalho árduo. “O meu pai sempre foi muito rigoroso, muito focado nos estudos. Passou muitas dificuldades para conseguir ser médico e estudar, então quis passar-nos valores do género: ‘vocês têm que se esforçar para estudar, para ser alguém’.” Descreve, ainda, o estilo de vida extenuante do pai em Portugal: “Trabalhava em cinco hospitais e era sempre ‘vai para casa, come, volta’. Às vezes nem voltava, fazia bancos de uma semana. Eu só o via de longe a longe.” Esta pressão colocada pelo pai de Lia nos seus filhos, não só para a sobrevivência da família, como, também, para o sucesso face às adversidades, moldou o trajeto de vida da sua descendência, tal que todos obtiveram estudos superiores e atingiram posições de prestígio nas suas respetivas áreas profissionais.
Embora afirme que não se considera angolana, Lia aponta o desfasamento entre a sua identidade e a perceção que têm dela. “Se não fosse a [minha] cor, tu não dirias que eu não sou portuguesa. Se eu fosse branca, se calhar já me diziam ‘ela é mesmo portuguesa’.”Apesar de afirmar que nunca sentiu racismo ou preconceito em Portugal, reconta momentos em que foi confrontada com a sua diferença. “No trânsito, quando havia encontros, gritavam ‘vai para a tua terra, sua preta!’.” Reconhece também que, pelo facto de a sua mãe ser branca, poderá ter tido um tratamento melhor durante a sua vida. “Era ela que ia à escola, e se calhar já paravam um bocadinho e pensavam, ‘ok, ela não é de famílias totalmente negras’.”






A experiência imersiva de intercontinentalidade da parentela, que vive com um pé em África e outro na Europa, criou, assim, uma dinâmica intrafamiliar de grande diversidade, em que os sentimentos de pertença e de identidade cultural de cada membro diferem. Porém, segundo Lia, apesar dos percursos, conhecimentos e crescimentos singulares de cada um, os membros da família valorizam o que têm em comum. “Eles têm uma perspetiva diferente da minha, e isso é bom. As nossas opiniões acabam por se interligar. Isso faz de nós uma família rica em perspetivas.”
“No meio do Atlântico”
Isabella Costa Teixeira é de origem brasileira, tendo nascido em Belo Horizonte, capital do Estado de Minas Gerais, há 22 anos. Isabella deixou o seu país aos 6 anos de idade com os pais – Sílvio e Giovanna – e a irmã mais velha, Rafaella, quando a família decidiu vir para Portugal com a convicção de que esta era a vontade de Deus. “Temos uma história muito maluca”, explica a jovem entre gargalhadas, ao falar sobre a missão evangelizadora que a sua família tem levado a cabo: “Viemos com o intuito de ter uma vida com Deus e falar sobre Ele para as pessoas. Não foi nada acerca de trabalho ou dinheiro, como as pessoas faziam naquela época. Na verdade, se fosse por uma causa financeira, estaríamos no Brasil até hoje.” A escolha missionária surge, certamente, como uma experiência ímpar dentre as várias causas que podem existir para a migração. A forma como Isabella narra a sua história de vida, de maneira descontraída, revela que aquela não é a primeira vez que a sua trajetória, voltada para propósitos transcendentes, impressiona os seus ouvintes.

anos depois da sua chegada a Portugal // Fotografia cedida por Isabella
O objetivo dos seus pais, de permanecer no país e cumprir a vontade de Deus independentemente das adversidades, influenciou claramente a sua vida. É a Deus que ela agradece – mesmo com todos os problemas que teve durante o seu período de adaptação no país, não padece de nenhum trauma ou rancor, tendo, ao invés, memórias extremamente alegres da sua infância. “Sei que a minha infância, mesmo sem brinquedos ou coisas caras, foi melhor do que a da maioria das crianças que têm tudo o que o dinheiro pode comprar”, afirma Isabella, referindo as grandes dificuldades financeiras que a sua família enfrentou aquando da sua chegada ao país. O valor das coisas e da vida reside muito além do plano material e palpável para Isabella, que nunca deixa que as circunstâncias definam a sua felicidade.
Além dos entraves económicos sentidos, a adaptação cultural foi também um fator que influenciou exponencialmente a vida de Isabella. De uma forma extremamente estratégica, decidiu, desde tenra idade, dedicar-se à aprendizagem da variante do português europeu e incorporá-la no seu quotidiano, almejando minimizar a pressão sentida por ser quem era. O principal catalisador desta aprendizagem foi a escola. Porém, refere como a mentalidade missionária dos seus pais envolvia a inserção na comunidade portuguesa: “Queríamos atrair e ser atraídos por portugueses, se quiséssemos manter apenas a nossa parte brasileira, voltávamos para o Brasil.”
Contudo, a pressão que incidia na preservação da cultura brasileira no seio familiar era essencial para os seus pais, que desejavam que ela deixasse vivos os laços, mesmo que estes estivessem distantes. “Não é que eles quisessem que eu fosse patriota, mas desejavam que eu aprendesse dos dois lados”, o que, de acordo com mesma, acabou por deixá-la com um sotaque “bonito”, tanto para o português europeu como para o brasileiro, e com uma liberdade de escolha sobre o que incorporaria e adotaria de cada uma das duas culturas. Esta liberdade também lhe era dada pelos seus parentes no Brasil, que sempre apreciaram o lado português que Isabella construiu na sua vida, nunca colocando qualquer pressão sobre ela ou sobre a irmã para manterem as suas origens intactas.
“Eu considero-me praticamente portuguesa, mas no fundo sempre vou ser brasileira. Parece que eu fiquei ali, no meio do Atlântico, de tão misturada que é a minha cultura.” Dentre os aspetos com que mais se identifica em relação a Portugal, Isabella cita a forma como lida com barulho e desorganização, contando como foi quando esteve de passagem no Brasil com a família e ficou espantada com a quantidade de gritos e reações descomedidas que o público tinha ao assistir a um filme. “Eu pensei que estava a entrar num parque de diversões”, relembra ao narrar o episódio, “o máximo que vamos fazer num cinema em Portugal é rir”, responsabilizando a cultura portuguesa pelo seu lado mais austero e tranquilo.
Isabella considera que o facto de conseguir falar português de Portugal não só enriqueceu a sua cultura pessoal como também lhe abriu muitas portas no país. “Trabalhei em lugares em que meu patrão nem sabia que eu era brasileira, e sei que não conseguiria vários trabalhos se não falasse com o sotaque de Portugal.” Reconhece que a sua habilidade de alternar facilmente entre cada sotaque, assim como o facto de estudar numa escola com mais imigrantes, e por ter estudado em regime de ensino doméstico a partir dos 13 anos, evitou que tivesse grandes experiências com o preconceito e a xenofobia no país.
Esta análise que faz sobre a sua própria experiência surge quando compara o que a sua irmã viveu, principalmente ao cursar o secundário numa escola mais privilegiada. “A Rafa”, fala sobre a irmã recorrendo ao apelido da mesma, “chegou a ser agredida repetidas vezes na escola. Para ela, a língua sempre foi um mecanismo de defesa.” Frases como “não fales assim, estás em Portugal” ou “volta para a tua terra” estiveram igualmente presentes na infância das duas, mas as irmãs nunca se deixaram definir por estes estereótipos, que as pressionavam a omitir a sua identidade. Isabella confessa, emocionada, como o seu corpo parece ter repudiado e extinguido este tipo de lembrança, protegendo as suas boas memórias. Assim, reconhece que sofreu diferentes formas de preconceito, mas dificilmente consegue nomear uma após tantos anos, ou deixar que estas experiências vis se sobreponham às mais aprazíveis. De facto, a sua adaptação poderia mesmo ter sido marcada por casos muito mais flagrantes, como os que encontramos nos testemunhos de outros migrantes, que denunciam uma realidade de violência e marginalização.
No final da conversa, Isabella regressa ao início. Conta como os seus pais sofreram muito com preconceitos anti-brasileiros no processo de resolução dos seus documentos e de outras questões importantes aquando da sua chegada a Portugal. Dentre um destes casos, está a entrada dela e de sua irmã na escola. Quando a sua mãe as foi matricular, fê-lo sozinha e, chegando à escola, não conseguiu vagas para as suas filhas porque o diretor da escola assumiu que ela fosse uma prostituta e não teria este direito. Isabella conta como seus pais tiveram de recorrer à DGE (Direção-Geral da Educação), que obrigou o diretor a aceitá-las na escola. Termina afirmando, “Eu agradeço a Deus pela vida que tivemos, porque sei como muitos passam por pior no processo de imigração”.
“Nem toda a brasileira é bunda”
É um facto: há casos piores que não podem ser levados pela espuma dos dias. A experiência positiva de um migrante não invalida as vivências negativas de outro, e vice-versa. A pressão sobre os migrantes passa, em muitos casos, por uma realidade marcada por xenofobia e intolerância, independentemente da etnia, o que influencia profundamente a experiência do migrante no país para o qual migra. Muitos sentem-se pressionados a ignorar estes casos para que a sua adaptação seja mais fácil. Todavia, estereótipos acerca da mulher brasileira, como demonstra o testemunho da mãe de Isabella, têm estado na boca do povo há gerações, por conta de uma tradição colonialista e patriarcal muito forte.
O ‘Brasileiras Não Se Calam’ é um projeto que reúne mulheres brasileiras e lhes dá voz, enfatizando as diversas formas de preconceito – e, muitas vezes, de assédio – de que foram vítimas no exterior. Através do seu blog e de uma página bastante popular no Instagram, as administradoras deste projeto pretendem apoiar este grupo e ressignificar o valor social da mulher, defendendo que esta nunca deve estar subjugada à sua aparência física nem ao que se espera dela, seja pela sua etnia ou pelo papel que a sociedade patriarcal lhe atribuiu. Assim como “nem toda feiticeira é corcunda, nem toda brasileira é bunda” – e nunca uma música fez tanto sentido.
Por conta do seu anonimato, as responsáveis pela página concederam-nos uma entrevista em formato escrito, para melhor entendermos a sua posição e opinião acerca do preconceito em Portugal, e para nos contarem a sua experiência, como grupo, de adaptação num país estrangeiro.

Por que motivo decidiram fazer esta grande mudança e de onde surgiu a ideia?
A ideia surgiu em julho de 2020, depois de um episódio de xenofobia que aconteceu no Big Brother de Portugal, onde uma das participantes disse que “a brasileira já tem a perna aberta”. A discriminação, o assédio e a xenofobia, infelizmente, estão presentes desde que cá estamos, mas esse episódio nos deixou ainda mais indignadas. Foi aí que percebemos como o estereótipo e o preconceito são naturalizados em Portugal, então decidimos fazer algo mais concreto. Daí surgiu a ideia de criarmos um espaço seguro, onde as mulheres brasileiras vítimas de discriminação pudessem falar sobre suas experiências de forma anônima e sem julgamentos.
Nossas experiências negativas acabaram nos despertando para que esse tipo de violência acontecia, porque, até então, não tínhamos ideia. Achamos que havia uma necessidade muito grande de as mulheres brasileiras que sofrem assédio e discriminação contarem suas histórias, mas ainda não havia um espaço seguro pra isso. Com o projeto nós acabamos por oferecer esse espaço.
Qual era o objetivo inicial do projeto? Este foi cumprido ou superou as vossas expectativas?
Começámos apenas compartilhando os relatos nas redes sociais de forma anônima – e esse era o objetivo principal, chamar a atenção para o problema e oferecer um espaço seguro em que as mulheres pudessem contar suas histórias. Depois fomos percebendo a necessidade de criar outros projetos que pudessem apoiar essas mulheres de outras formas. Foram surgindo voluntárias e, então, nós decidimos criar o site para organizar todos os projetos por lá. Hoje temos 8 projetos, 35 voluntários e 138 mulheres que já participaram nestes projetos. Nunca imaginamos que iríamos conseguir criar uma rede de apoio em tão pouco tempo.

(16 de Janeiro de 2021)
Acham que o estatuto com que vieram para Portugal influencia a vossa experiência, por exemplo, no mercado de trabalho, nos relacionamentos com locais ou em termos burocráticos?
Somos residentes em Portugal e achamos que, sim, influencia bastante por causa da questão da documentação. Ter que depender da aprovação de um órgão para continuar vivendo em um país nos coloca em uma posição de passividade diante de muitas injustiças que vivenciamos aqui por medo de sermos prejudicadas de alguma forma.
Que dificuldades encontraram ao chegarem a Portugal? Consideram que a adaptação foi árdua?
Foi difícil principalmente nas relações pessoais. Não podemos generalizar, mas a xenofobia tem nos atrapalhado bastante em conseguir estabelecer relações mais íntimas com a maioria dos portugueses. Geralmente não sentimos que haja espaço para essas relações e acabamos desenvolvendo relações maioritariamente com outros imigrantes.
Tiveram más experiências relacionadas com o preconceito? Em que é que vos afetou?
Sim, já fomos seguidas na rua por homens que gritavam: “brasileiras!”. Já tivemos partes íntimas dos nossos corpos tocadas sem consentimento e já fomos seguidas em supermercados pelos seguranças. Essas experiências nos deixam muito indignadas – não deveríamos ter que passar por isso. Esperamos que as mulheres das gerações futuras não tenham essas mesmas experiências negativas que tivemos. Estamos lutando para isso.
Já era o vosso intuito receber testemunhos de todos os países ou queriam, inicialmente, dedicar-se só aos testemunhos que proviessem de Portugal?
A ideia inicial era mesmo receber relatos de todos os países. Temos recebido mais relatos que aconteceram em Portugal, mas a ideia é que mulheres brasileiras que sofreram esses episódios em outros países também tenham um espaço.
Quais, na vossa opinião, os principais e mais críticos estereótipos criados sobre as mulheres brasileiras? Como é que estes afetam esta parte da população em Portugal?
Achamos que a questão de algumas pessoas nos tratarem como se fôssemos mais disponíveis sexualmente do que mulheres de outras nacionalidades é um dos principais problemas. Isso faz com que a violência seja agravada para toques sem autorização e para nos tratarem como se tivessem direito aos nossos corpos por sermos brasileiras. Não somos estudiosas dessa área, mas achamos que existe um conjunto de fatores para que essa violência contra as mulheres brasileiras continue sendo legitimada no exterior.
Um caso de abuso ou preconceito sofrido no exterior, onde a pessoa detém um estatuto de imigrante, pode ser mais grave do que se ocorresse no seu local de nascimento?
Todos os casos são graves, mas se tratando de mulheres imigrantes e brasileiras existem outras vulnerabilidades que agravam mais ainda essas situações. E se a mulher for negra ou transsexual é mais delicado ainda.
Na vossa opinião, a temática do abuso e do preconceito contra imigrantes em Portugal é dignamente abordada nos meios de comunicação social?
Achamos que a comunicação social tem aberto mais espaço para esses temas ultimamente, principalmente depois do assassinato de Ihor Homenyuk no aeroporto de Lisboa por inspetores do SEF; das pichações em escolas e universidades atacando negros e imigrantes; e dos crimes que têm sido descobertos dentro de instituições que auxiliam imigrantes. Porém, achamos que é preciso que esse problema seja falado recorrentemente para que consigamos mudar a realidade em que vivemos hoje.
Que meios existem em Portugal para apoiar vítimas de xenofobia e como se pode aceder-lhes?
Existe a Comissão para a Igualdade e Contra a Discriminação Racial (CICDR), que tem uma sede em Lisboa e uma linha de apoio ao migrante, e também a Unidade de Apoio à Vítima Migrante e de Discriminação (UAVMD), que também tem sede em Lisboa e uma linha telefônica, que oferece apoio a imigrantes vítimas de discriminação e assédio em Portugal.
Em que é que a seleção de testemunhos para as vossas redes sociais se baseia?
Temos dado preferência à ordem cronológica em que [os testemunhos] são enviados para a página, mas são muitos depoimentos. Existem ainda muitos que ainda não foram publicados.
Qual é o vosso objetivo para o futuro do projeto? Pretendem expandir-se?
Pretendemos continuar apoiando cada vez mais mulheres brasileiras imigrantes. As necessidades vão surgindo a partir dos contatos que vamos tendo com essas mulheres e do apoio que vamos conseguindo através das voluntárias. Desde o começo, o projeto tem sido construído dessa forma – a partir de demandas que são trazidas por elas, vamos tentando auxiliar da forma que nos é possível.
Integrar os desintegrados
Tendo em conta um histórico de difícil integração, integrar desintegrados é, incontestavelmente, algo crucial. Não seria frutífero delatar apenas os problemas – as soluções são igualmente importantes. Por isso, no setor público, um dos órgãos que se prontifica a ajudar na integração e inclusão dos migrantes e refugiados é o Alto Comissariado para as Migrações (ACM). O instituto público intervém na execução das políticas públicas em matéria de migrações. O objetivo é responder às crescentes necessidades dos diferentes perfis dos migrantes e da sua integração. A sua missão, como se pode ler no site, é dividida em pontos concisos:
· Promover Portugal enquanto destino de migrações;
· Acolher, integrar os migrantes, nomeadamente através do desenvolvimento de políticas transversais, de centros e gabinetes de apoio aos migrantes, proporcionando uma resposta integrada dos serviços públicos;
· Colaborar, em articulação com outras entidades públicas competentes, na conceção e desenvolvimento das prioridades da política migratória;
· Combater todas as formas de discriminação em função da cor, nacionalidade, origem étnica ou religião;
· Desenvolver programas de inclusão social dos descendentes de imigrantes;
· Promover, acompanhar e apoiar o regresso de emigrantes portugueses e o reforço dos seus laços a Portugal.
Uma das estratégias de integração de que o ACM se munia era colocar os migrantes a atender os próprios migrantes. “Foi esta a maneira que se conseguiu encontrar de forma a pôr os migrantes a trabalharem no serviço público, porque ia haver uma forma de integrar as pessoas, ultrapassavam-se as barreiras linguísticas e, no fundo, havia um reconhecimento de confiança mútuo”, afirma Marlene Jordão, coordenadora do Centro Nacional Apoio e Integração e Migrantes de Lisboa (CNAIM).
Todos os serviços de que um migrante necessite estão concentrados num mesmo edifício por uma questão de facilidade e celeridade das questões burocráticas. Contudo, até à criação dos CNAIM, anexados ao ACM, não era assim – “O migrante, para tratar da sua documentação, necessitava de estar dias na Segurança Social, com filas infindáveis; outra semana à porta da Administração Geral Tributária para carimbar o contrato de trabalho. Ou seja, era uma semana que não trabalhava, perdia dinheiro, andava à chuva e em filas”, relembra Marlene Jordão.
Hoje em dia, o cenário é mais aprazível. Dentro destes centros nacionais, coabitam várias entidades públicas, como o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF), a Segurança Social, o Espaço Cidadão, o Ministério da Educação e da Saúde. Para além disso, existem outros gabinetes de apoio gratuitos, que incidem sobre os apoios jurídico, social e laboral, criados para dar resposta a essas necessidades. Foi um projeto inovador tanto para os clientes como para as entidades públicas, promovendo o diálogo entre elas. Marlene Jordão exemplifica: “O SEF, por exemplo, aprendeu connosco a ter este regime de mediador – como sabemos, o atendimento do SEF já foi bastante árduo. Esta articulação e este diálogo foi importante, porque antigamente não havia comunicação com os inúmeros órgãos”. O Gabinete de Acolhimento e Triagem (GAT) trabalha diretamente com o SEF, fazendo a triagem da documentação que os migrantes têm de possuir. Assim, este diálogo constante permite encurtar o tempo das burocracias.
Que outros serviços existem?
Linha de Apoio ao Migrante (808 257 257)
A Linha de Apoio ao Migrante existe para responder celeremente às perguntas mais frequentes dos migrantes, fornecendo remotamente toda a informação disponível na área das “Migrações” ou encaminhando as chamadas para os serviços competentes, sempre que o tema seja da competência de outra entidade.
Serviço de Tradução Telefónica
O Serviço de Tradução Telefónica é um serviço de tradução, proporcionado pelo ACM, que permite colocar as pessoas em conferência telefónica com um tradutor. Por exemplo, imaginemos que um migrante vai ao médico e não consegue comunicar com ele. O migrante liga para esta linha, atribui-se-lhe um tradutor e faz-se a conferência simultânea. O serviço está disponível, sem custos para as entidades e/ou utilizadores, através da Linha de Apoio a Migrantes.
Rede de Centros Locais de Apoio à Integração de Migrantes
A Rede de Centros Locais de Apoio à Integração de Migrantes funciona, normalmente, nas autarquias. São centros cuja resposta é a mesma que a do CNAIM, mas promovendo a interculturalidade a nível local. Atualmente existem mais de 100 CLAIM, provenientes de parcerias estabelecidas através de Protocolo de Cooperação com Autarquias.
Apoio à Integração de Pessoas Refugiadas
Desde 2015, no âmbito dos programas de recolocação e reinstalação dos refugiados, Portugal passou a ser um país de acolhimento. Por isso, para assegurar às pessoas refugiadas os serviços adequados às suas necessidades, foi atribuído ao ACM essa responsabilidade.
É possível dizer, então, que Portugal tem vários órgãos no setor público que permitem tornar a adaptação dos migrantes e refugiados mais fácil, diminuindo a pressão que sentem aquando da sua chegada ao país em que se vão localizar. No entanto, Marlene não se esquece de enfatizar um aspeto: “Portugal é um país pequeno. Tudo o que fizer é à medida do país. Podemos ouvir muitas críticas – não vale a pena esconder –, mas, muitas vezes, são questões políticas e económicas que nos transcendem. Nem tudo depende de nós”.
Onde as oportunidades se refugiam
Numa casa portuguesa fica bem pão e vinho sobre a mesa, bem se sabe, mas a saudade do pão do próprio país de Alaa Alhariri, jovem síria e estudante de arquitetura, foi a catalisadora de um projeto de integração que viria a nascer com a Associação Pão a Pão. Esta escassez de pão era inusitada. Primeiro, idealizou-se uma padaria; depois, a abertura de um restaurante afigurou-se como a ideia mais indicada – claro, porque o pão sírio é a colher que vai buscar um pouco de todas as iguarias que se colocam numa mesa. De que é que adiantava o pão sem uma refeição que a acompanhasse? A resposta a esta questão encontra-se num restaurante sírio que o Mercado de Arroios viu expandir-se e cujo apoio que daria às pessoas com estatuto de refugiado era inimaginável.
Além do regozijo que se iria proporcionar a Alaa, o intuito do restaurante não se cingia somente a esta mas a toda a comunidade de refugiados que, localizados em Lisboa tal como ela, sentiam falta da sua cultura de origem. Por muito que se deixassem encantar por Lisboa, nada encurtava a distância das suas raízes. Tinham saudades não só do pão, mas de toda uma vida que foi deixada para trás, na esperança de encontrarem uma melhor. Na esperança de, num ambiente menos hostil, poderem reunir novamente a família à volta de uma mesa. Assim, o objetivo deste restaurante era simples: “criar uma atmosfera mais acolhedora a receber as pessoas que viriam chegar a Portugal”, afirma Francisca Gorjão Henriques, presidente da Pão a Pão. Comer é algo de que todos necessitamos e cozinhar faz parte da cultura portuguesa.
É seguro dizer, portanto, que a criação de toda uma refeição era fulcral porque teria não só a particularidade de dar a conhecer a cozinha síria aos portugueses como também colocar a cozinhar quem abraçava Portugal como refúgio. “As pessoas com estatuto de refugiado chegam a Lisboa e podem partilhar a sua identidade com quem está a acolhê-las. Mostram à sua nova comunidade que têm muito para oferecer”, reiterava Francisca, convictamente, de sorriso no rosto.

O mérito dos primeiros contactos efetuados é atribuído a Alaa, que, “sabendo alguma coisa de português, era chamada para ajudar os refugiados que chegavam”, frisava Francisca. No entanto, o processo revelava-se mais complexo à medida que a afluência de vindouros se acentuava. A Pão a Pão estabeleceu parcerias com o Alto Comissariado para as Migrações, com o Serviço Jesuíta de Apoio aos Refugiados e com a Câmara Municipal de Lisboa, “serviços essenciais para encaminharem as pessoas até aqui”. O diálogo, contudo, foi a ferramenta mais útil – muitos dos currículos endereçados à Pão a Pão eram de pessoas que ainda se encontravam inseridas na realidade atroz vivida nos campos de refugiados da Grécia e da Turquia.
Estas pessoas iam, ainda assim, sobrevivendo e lutando dia após dia, até que algumas conseguiram juntar-se a este projeto – é caso para dizer que se à porta humildemente bate alguém, senta-se à mesa com a gente. Por isso, a equipa foi crescendo, assim como a vontade de trabalhar e o anseio pela estabilidade. Em 2017, no começo, que parecia incerto, eram dez; hoje, são quase vinte os refugiados que constituem a equipa do restaurante. Maioritariamente mulheres, como Fátima Ghanem, a chefe de cozinha, e jovens adultos, como Rafat Dabbah, filho de Fátima e gerente do restaurante, as histórias que estas pessoas têm para contar parecem quase inverossímeis.
É difícil de conceber, devido à distância física e ideológica, o estado dos países de que estes decidem escapulir. Consequentemente, a experiência de adaptação destes refugiados tem sido complexa. Isto não surpreende – tudo o que implique transformações muito grandes de um contexto de vida tem inúmeras ramificações distintas, havendo aspetos positivos e outros menos brilhantes. Os positivos incidem sobre o facto de estas pessoas sentirem, ao trabalharem, que fazem parte da sociedade e que contribuem para o bem-estar da sua família com o salário que ganham – mas a transformação pessoal consequente é diferente para todos.
É aqui que a pressão no que concerne o papel da mulher com estatuto de refugiada se adensa. Estas mulheres cresceram com a ideia de que o seu papel seria, fundamentalmente, ficar em casa a cuidar dos filhos. Nunca imaginaram, talvez, que teriam de fugir do país que as viu nascer e trabalhar para deixarem intactos os pilares em que as suas famílias assentam. Por isso, este conflito interior incita à mudança da visão do seu papel – são quase pressionadas a fazê-lo.
“Muitas vezes, [as mulheres] sentem que o que estaria certo era ficar em casa a cuidar dos filhos. Portanto, não vamos agir como se isto tudo fosse fantástico e que elas agora são as providers empoderadas – claro que é verdade, mas não é toda a verdade”, alerta Francisca.
É neste sentido que a Pão a Pão se mune de estratégias para colmatar esta pressão e inserir os refugiados. Organizavam, em célebres tempos pré-pandémicos, workshops de cozinha, que, seguidos de um jantar de confraternização, aproximavam os portugueses e os sírios, promovendo o diálogo intercultural; havia até debates e conversas mais informais, que tinham como objetivo desmistificar alguns preconceitos, incidindo sobre o tema da inclusão e sobre o feminismo islâmico. Todas estas iniciativas transformam a comunidade de acolhimento, tornando-a mais inclusiva e menos preconceituosa. Para os trabalhadores, uma forma de os incluir, explicita a presidente da associação, será a aprendizagem da língua, o acesso à habitação, à saúde e ao emprego. Esta resposta de empregabilidade que a Pão a Pão criou teve como mote as ferramentas que as pessoas já possuem. Os trabalhadores são profissionalizados, preservando sempre as suas qualidades já existentes, de forma a que estes sejam ainda mais valorizados.
“Querem, com o restaurante, expandir-se e começar um novo projeto do mesmo género?”, perguntamos. A resposta surge rapidamente para Francisca: “Queríamos abrir um estabelecimento semelhante no Porto, parecia-nos a sequência lógica. Entretanto, pusemos essa ideia de parte ou, pelo menos, arrumada até melhores dias, porque exige concentração e uma equipa maior para que o projeto possa ser bem acompanhado”. De uma coisa tem a certeza: “O restaurante tem sido uma rampa de lançamento para estas pessoas. Foram já muitos os que o fizeram acontecer. Mesmo que já não estejam connosco, por terem encontrado outras oportunidades, o restaurante continua a ser deles também”.
Não nos é indiferente a importância sociopolítica de um projeto deste tipo. As pretensões de retratar o migrante e o refugiado de forma humana e digna parecem-nos, no período politicamente conturbado que atravessamos, colidir com movimentos sociais cujo objetivo é exatamente o oposto: a demonização e culpabilização das comunidades de migrantes. Acolhemos de braços abertos um futuro em que a marginalização destes grupos dá lugar a uma convivência multicultural isenta de pressão e conflito, e em que o discurso de ódio é substituído por um esforço empático de integração do outro.
Créditos fotografia de capa // Pexels